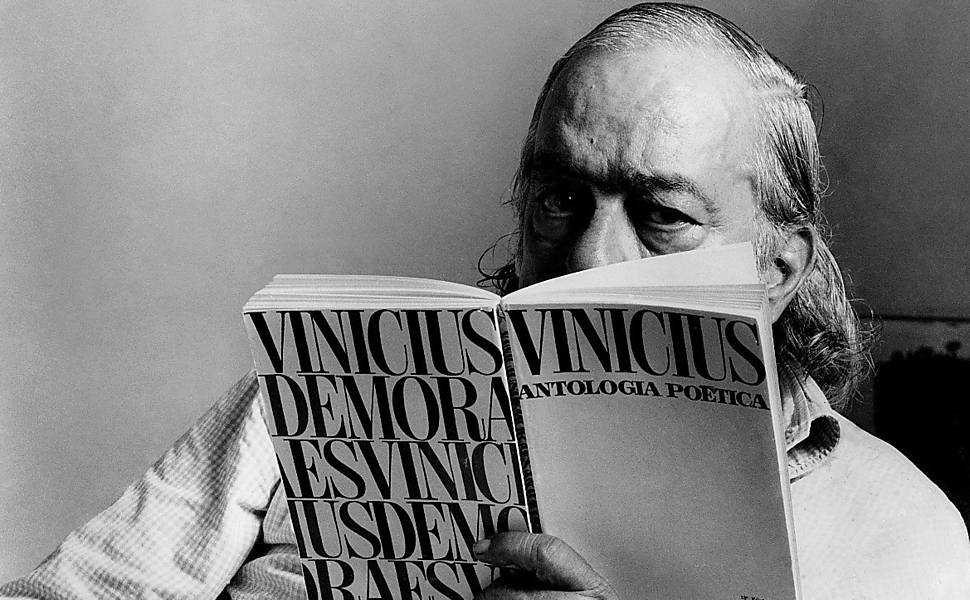Canto do Livro
Entre o pó e as traças de uma gaveta de livreiro
sábado, abril 27
Bendito
Louvados sejas Deus meu Senhor,
porque o meu coração está cortado a lâmina,
mas sorrio no espelho ao que,
à revelia de tudo, se promete.
Porque sou desgraçado
como um homem tangido para a forca,
mas me lembro de uma noite na roça,
o luar nos legumes e um grilo,
minha sombra na parede.
Louvado sejas, porque eu quero pecar
contra o afinal sítio aprazível dos mortos,
violar as tumbas com o arranhão das unhas,
mas vejo Tua cabeça pendida
e escuto o galo cantar
três vezes em meu socorro.
Louvado sejas porque a vida é horrível,
porque mais é o tempo que eu passo recolhendo despojos,
– velho ao fim da guerra como uma cabra –
mas limpo os olhos e o muco do meu nariz,
por um canteiro de grama.
Louvados sejas porque eu quero morrer,
mas tenho medo e insisto em esperar o prometido.
Uma vez, quando eu era menino, abri a porta de noite,
a horta estava branca de luar
e acreditei sem nenhum sofrimento.
Louvado sejas!
Adélia Prado
porque o meu coração está cortado a lâmina,
mas sorrio no espelho ao que,
à revelia de tudo, se promete.
Porque sou desgraçado
como um homem tangido para a forca,
mas me lembro de uma noite na roça,
o luar nos legumes e um grilo,
minha sombra na parede.
Louvado sejas, porque eu quero pecar
contra o afinal sítio aprazível dos mortos,
violar as tumbas com o arranhão das unhas,
mas vejo Tua cabeça pendida
e escuto o galo cantar
três vezes em meu socorro.
Louvado sejas porque a vida é horrível,
porque mais é o tempo que eu passo recolhendo despojos,
– velho ao fim da guerra como uma cabra –
mas limpo os olhos e o muco do meu nariz,
por um canteiro de grama.
Louvados sejas porque eu quero morrer,
mas tenho medo e insisto em esperar o prometido.
Uma vez, quando eu era menino, abri a porta de noite,
a horta estava branca de luar
e acreditei sem nenhum sofrimento.
Louvado sejas!
Adélia Prado
O subsolo
Mas tudo isso não passa de sonhos dourados. Ah! Digam-me quem primeiro declarou, quem primeiro proclamou que o homem só age mal porque não conhece seus verdadeiros interesses e que, se lhe dessem instrução, se lhe abrissem os olhos para os seus interesses verdadeiros e normais, ele deixaria de agir de modo sórdido, imediatamente se tornaria bom e nobre, porque, sendo esclarecido e entendendo suas vantagens reais, veria justamente no bem a sua própria vantagem? E que, como é sabido que nenhum homem é capaz de agir conscientemente contra seus próprios interesses, consequentemente, por necessidade, digamos, ele passaria a fazer o bem? Ó criancinha pura e inocente! Em primeiro lugar, quando foi que, no decorrer de milênios, o homem agiu movido apenas pelos próprios interesses? Que fazer com os milhões de fatos que demonstram que conscientemente, isto é, compreendendo perfeitamente suas verdadeiras vantagens, pessoas deixaram-nas de lado e lançaram-se por outro caminho, ao acaso, arriscando-se, sem que ninguém ou nada as obrigasse a isso, como se simplesmente não quisessem exatamente o caminho que lhes fora indicado e teimosa e voluntariosamente abriram outro, mais difícil, absurdo, tateando no escuro quase às cegas? Significa, pois, que para elas essa teimosia e esse voluntarismo eram de fato mais agradáveis do que qualquer vantagem pessoal... Ah, a vantagem! Que é a vantagem? Os senhores aceitariam a tarefa de determinar com absoluta precisão em que consiste a vantagem para o ser humano? E se acontecer que, em alguns casos, para o homem a vantagem não só possa, como também deva consistir, algumas vezes, em desejar para si aquilo que é ruim, e não o vantajoso? E, se isso é possível, se pode acontecer um caso como este, então a regra não vale nada. Que pensam os senhores: tais casos podem acontecer? Podem rir, senhores, mas me respondam apenas: teriam sido determinadas corretamente as vantagens humanas? Não existiriam algumas que não se enquadraram e nem poderiam enquadrar-se em nenhuma classificação? Pois os senhores, ao que eu saiba, compuseram toda a sua lista de vantagens humanas fazendo uma média de valores estatísticos e de fórmulas da ciência econômica. De acordo com as suas conclusões, são elas o bem-estar, a riqueza, a liberdade, a tranquilidade, e assim por diante. De modo que, por exemplo, o homem que clara e deliberadamente rejeitasse toda essa lista seria, na sua opinião, e na minha também, é claro, um obscurantista ou um ser completamente louco, não é isso? Mas vejam uma coisa espantosa: por que acontece que todos esses estatísticos, esses sábios que tanto amam a humanidade, quando enumeram as vantagens humanas sempre omitem uma delas? Nem a levam em conta da maneira como deve ser levada, e disso depende toda a conta. Não seria um mal tão grande se pegassem essa vantagem e a colocassem na lista. Mas a desgraça é que essa vantagem problemática não se encaixa em nenhuma classificação. Eu, por exemplo, tenho um amigo... Mas vejam só! Ele é amigo dos senhores também; e de quem, de quem ele não é amigo?! Ao se preparar para realizar uma ação, esse senhor começará por lhes explicar, de maneira clara e pomposa, como precisamente ele deve agir para estar de acordo com as leis da razão e da verdade. Isto não é tudo: ele falará aos senhores com paixão e emoção sobre os interesses humanos normais e verdadeiros, criticará com ironia os idiotas míopes que não entendem nem suas próprias vantagens, nem o verdadeiro significado da virtude e, exatamente quinze minutos depois, sem que haja qualquer motivo repentino e exterior, mas precisamente por alguma coisa interna que é mais forte do que todos os seus interesses, ele aprontará uma das suas, fará claramente o inverso do que dissera pouco antes: agirá contra as leis da razão e contra os próprios interesses, ou seja, contra tudo... Quero preveni-los de que meu amigo é um personagem coletivo, por isso é um pouco difícil condenar só a ele. Mas é aí mesmo que eu quero chegar, senhores. Será que de fato não existe algo que seja mais caro a quase todos os homens do que suas melhores vantagens, ou (para não destruir a lógica) aquela mesma vantagem mais vantajosa (aquela que é sistematicamente omitida, de que falamos antes), que é mais importante e mais vantajosa do que todas as outras vantagens e que, para obtê-la, o homem está sempre pronto, se necessário, a afrontar qualquer lei, ou seja, ir contra a razão, a honra, o sossego, o bem-estar – numa palavra, contra todas essas coisas maravilhosas e úteis, apenas para alcançar essa vantagem mais vantajosa, a primeira, que para ele é mais cara do que tudo?
– Mas continua sendo uma vantagem – dirão os senhores, interrompendo-me.
Nesse tempo – isso tudo os senhores é que dizem –, surgirão novas relações econômicas, que serão também completamente calculadas, e com precisão matemática, de modo que, num piscar de olhos, todo tipo de questões deixarão de existir, precisamente porque alguém já terá encontrado todo tipo de respostas para elas. E então será construído um palácio de cristal. Então... Bem, numa palavra: então seremos visitados pelo pássaro azul. Evidentemente, não se pode garantir (isto já sou eu que estou dizendo) que nesse tempo não será, por exemplo, terrivelmente aborrecido (porque, o que haverá para fazer, se tudo estará distribuído numa tabela?), mas, em compensação, tudo será extremamente sensato. Evidentemente, o que não se inventará por puro tédio! Pois alfinetes de ouro são fincados também por tédio, mas isso ainda não é nada. O ruim mesmo (novamente sou eu que estou dizendo) é que pode até acontecer que as pessoas vão se sentir felizes com os alfinetes de ouro. Pois o ser humano é burro, de uma burrice fenomenal. Ou melhor, ele não é nem um pouco burro, mas em compensação é ingrato. Não existe ser mais ingrato que ele. Eu, por exemplo, não me admiraria nada se, de repente, sem nenhum motivo, em meio ao futuro bom senso geral, surgisse um cavalheiro com um rosto nada nobre ou, melhor dizendo, com uma fisionomia retrógrada e zombeteira e, de mãos na cintura, dissesse a todos nós: e então, senhores, que tal dar um pontapé em todo esse bom senso e mandar esses logaritmos para o diabo para que possamos novamente viver segundo a nossa vontade idiota? E não acabaria nisso, pois o mais lamentável é que ele certamente encontraria seguidores: assim é o ser humano. E tudo isso por um motivo insignificante que não valeria a pena mencionar: precisamente pelo fato de que o homem, invariavelmente e em todo lugar, quem quer que ele seja, sempre gostou de fazer o que quis, e não como mandam a razão e o interesse próprio; ele, inclusive, pode querer algo contra seus próprios interesses, e às vezes até deve indubitavelmente querê-lo (isto já é ideia minha). Sua vontade livre, um capricho seu, mesmo que seja o capricho mais estranho, uma fantasia sua, exacerbada às vezes até a loucura – eis a vantagem que é omitida, a vantagem mais vantajosa, que não se submete a nenhuma classificação e que manda para o diabo constantemente todos os sistemas e teorias. E de onde esses sabichões tiraram que o homem necessita não sei de que vontade normal, virtuosa? De onde partiu essa sua ideia de que o homem precisa ter obrigatoriamente uma vontade sensatamente vantajosa? O que o homem precisa é somente de uma vontade independente, custe ela o que custar e não importa aonde possa conduzir. Bom, essa vontade, o diabo conhece bem…
Fiódor Dostoievski, "Notas do subsolo"
– Mas continua sendo uma vantagem – dirão os senhores, interrompendo-me.
– Permitam-me, nós vamos nos explicar, e a questão não se resume a um jogo de palavras, e sim a que essa vantagem é notável justamente porque destrói todas as nossas classificações e todos os sistemas que foram montados pelos amigos do gênero humano. Resumindo: ela atrapalha tudo. Mas, antes de lhes dar o nome dessa vantagem, quero comprometer-me pessoalmente e, por isso, insolentemente declaro que todos esses maravilhosos sistemas, todas essas teorias que pretendem explicar para a humanidade quais são seus interesses verdadeiros e normais, para que ela, necessariamente almejando alcançar esses interesses, torne-se no mesmo instante boa e nobre – até o momento, na minha opinião, não passam de falsa lógica. É isso mesmo, senhores, falsa lógica. Afirmar que a renovação do gênero humano através do sistema de suas próprias vantagens, bem, isso, para mim, é quase a mesma coisa que... bem, quase o mesmo que afirmar, seguindo Buckle, que o homem se abranda por influência da civilização e, em consequência, torna-se menos sanguinário e menos inclinado a fazer guerras. Parece que foi pela lógica que ele chegou a essa conclusão. Mas o ser humano é tão apaixonado pelo sistema e pela conclusão abstrata, que é capaz de fazer-se de cego e surdo somente para justificar sua lógica. Por essa razão vou trazer um exemplo que ilustra com muita clareza tudo isso. Olhem ao seu redor: sangue fluindo como rios e ainda por cima com alegria, como se fosse champanhe! Isto, senhores, é o século XIX, século em que Buckle também viveu. Vejam Napoleão, tanto o Grande como o atual! Vejam a América do Norte, com sua união perpétua! Finalmente, vejam essa caricatura que é Schleswig-Holstein! Em que a civilização nos está abrandando? A civilização desenvolve no homem apenas uma diversidade de sensações... e nada mais. E, graças ao desenvolvimento dessas sensações, é bem possível que o homem acabe por descobrir no derramamento de sangue um certo prazer. Isso já aconteceu. Já notaram que os sanguinários mais refinados quase sempre têm sido os cavalheiros mais civilizados, aos pés dos quais não chegam todos os Átilas e Stenkas Rázin? E que, se eles não chamam muita atenção, como Átila e Stenka Rázin, é justamente porque são muito comuns e frequentes e já nos acostumamos a eles? Pelo menos se pode dizer que, se o homem não se tornou mais sanguinário com a civilização, tornou-se, com certeza, um sanguinário pior, mais hediondo. Antes ele via no derramamento de sangue um modo de fazer justiça e com a consciência tranquila massacrava aqueles que julgava merecê-lo; hoje, ainda que julguemos que derramar sangue seja uma torpeza, mesmo assim o praticamos, e ainda mais do que no passado. O que é pior? Decidam os senhores mesmos. Dizem que Cleópatra (desculpem se dou exemplo da história de Roma), gostava de fincar alfinetes de ouro nos seios de suas escravas e sentia prazer com seus gritos e contorções. Os senhores diriam que isso foi numa época relativamente bárbara; que agora também vivemos numa época bárbara (relativamente, também), pois hoje também se enfiam alfinetes; que também agora, embora o homem tenha aprendido, vez por outra, a enxergar com mais clareza do que nos tempos da barbárie, ele está longe de ter aprendido a proceder da maneira indicada pela razão e pela ciência. Porém, os senhores estão firmemente convencidos de que ele se acostumará, quando alguns hábitos antigos, ruins, tiverem desaparecido completamente, e quando o bom senso e a ciência tiverem reeducado totalmente a natureza humana, direcionando-a para um estado normal. Os senhores estão convencidos de que, então, o homem deixará voluntariamente de errar, e a contragosto, por assim dizer, não irá querer opor sua vontade aos seus interesses normais. E mais: nesse tempo, dizem os senhores, a própria ciência vai ensinar ao homem (embora isso já seja um luxo, na minha opinião) que ele, na verdade, não possui nem vontade, nem caprichos, que, por sinal, nunca os teve, e que ele mesmo não passa de alguma coisa parecida com uma tecla de piano ou um pedal de órgão; e que, ainda por cima, existem também as leis da natureza, de modo que, não importa o que ele faça, isso não é feito por sua vontade, e sim por si mesmo, seguindo as leis da natureza. Consequentemente, basta descobrir essas leis da natureza que o homem não terá mais de responder pelos seus atos, e viver, para ele, será extremamente fácil. Evidentemente, todas as ações humanas serão calculadas matematicamente, de acordo com essas leis, numa espécie de tábua de logaritmos, até 108.000, e serão inscritos nos calendários; ou, algo ainda melhor: surgirão algumas publicações bem-intencionadas, do tipo dos atuais dicionários enciclopédicos, em que tudo estará tão bem calculado e indicado, que no mundo não haverá mais nem ações nem aventuras.
Nesse tempo – isso tudo os senhores é que dizem –, surgirão novas relações econômicas, que serão também completamente calculadas, e com precisão matemática, de modo que, num piscar de olhos, todo tipo de questões deixarão de existir, precisamente porque alguém já terá encontrado todo tipo de respostas para elas. E então será construído um palácio de cristal. Então... Bem, numa palavra: então seremos visitados pelo pássaro azul. Evidentemente, não se pode garantir (isto já sou eu que estou dizendo) que nesse tempo não será, por exemplo, terrivelmente aborrecido (porque, o que haverá para fazer, se tudo estará distribuído numa tabela?), mas, em compensação, tudo será extremamente sensato. Evidentemente, o que não se inventará por puro tédio! Pois alfinetes de ouro são fincados também por tédio, mas isso ainda não é nada. O ruim mesmo (novamente sou eu que estou dizendo) é que pode até acontecer que as pessoas vão se sentir felizes com os alfinetes de ouro. Pois o ser humano é burro, de uma burrice fenomenal. Ou melhor, ele não é nem um pouco burro, mas em compensação é ingrato. Não existe ser mais ingrato que ele. Eu, por exemplo, não me admiraria nada se, de repente, sem nenhum motivo, em meio ao futuro bom senso geral, surgisse um cavalheiro com um rosto nada nobre ou, melhor dizendo, com uma fisionomia retrógrada e zombeteira e, de mãos na cintura, dissesse a todos nós: e então, senhores, que tal dar um pontapé em todo esse bom senso e mandar esses logaritmos para o diabo para que possamos novamente viver segundo a nossa vontade idiota? E não acabaria nisso, pois o mais lamentável é que ele certamente encontraria seguidores: assim é o ser humano. E tudo isso por um motivo insignificante que não valeria a pena mencionar: precisamente pelo fato de que o homem, invariavelmente e em todo lugar, quem quer que ele seja, sempre gostou de fazer o que quis, e não como mandam a razão e o interesse próprio; ele, inclusive, pode querer algo contra seus próprios interesses, e às vezes até deve indubitavelmente querê-lo (isto já é ideia minha). Sua vontade livre, um capricho seu, mesmo que seja o capricho mais estranho, uma fantasia sua, exacerbada às vezes até a loucura – eis a vantagem que é omitida, a vantagem mais vantajosa, que não se submete a nenhuma classificação e que manda para o diabo constantemente todos os sistemas e teorias. E de onde esses sabichões tiraram que o homem necessita não sei de que vontade normal, virtuosa? De onde partiu essa sua ideia de que o homem precisa ter obrigatoriamente uma vontade sensatamente vantajosa? O que o homem precisa é somente de uma vontade independente, custe ela o que custar e não importa aonde possa conduzir. Bom, essa vontade, o diabo conhece bem…
Fiódor Dostoievski, "Notas do subsolo"
Encontros
Meu primeiro encontro, em Poesia, depois das inelutáveis influências da juventude, foi o de Murilo Mendes. A fase da imitação declinava lentamente, à medida que os poetas melhoravam.
Discípulo ardente de Júlio Dantas, tendo escrito aos 14 anos um poema chamado "Os três amores", passei por Guerra Junqueiro em branco. Julgava-o um grande filósofo mais que um poeta, e temia-lhe o tom blasfemo. É que não lera ainda Os simples, onde está o melhor do seu lirismo. Nessa ocasião, fiz do sr. João Lira Filho mentor espiritual. Dei-lhe Foederis arca para ler. A Arca em aspas era um livrão de capa preta onde ia pondo os versos que me pareciam razoáveis. O sr. João Lira Filho não se agradou da poesia. Deu-me uns conselhos: que eu deixasse daquilo, que poesia era "frescura" e "abandono", que meus sonetos eram "muito ruins" e só as trovinhas "onde você procura imitar Adelmar é que são mais ou menos". A palavra "abandono" que interpretei mal, feriu-me a suscetibilidade juvenil. Larguei do sr. João Lira Filho e do seu mestre da Academia e dei com Guilherme de Almeida. Aquilo é que era poeta! Como é que o homem fazia aquelas coisas, que perfeição!
O relógio de mogno, grave, enorme
Dorme
Meu olhar se concentrava sobre a magia da palavra "mogno". Se me perguntassem o que era Poesia, eu diria que era aquela palavra feiticeira. Lembro-me que fiz um verso onde falava "em teus seios de mogno e teus lábios de écran". Meus poemas redundavam em diálogos sutilíssimos entre a amada e eu, passavam-se sempre numa casa de chá elegante ou num ônibus de luxo, tinham de Toi et moi, que felizmente só vim a ler mais tarde.
Castro Alves e Bilac não me fizeram grande impressão. Li-os apressadamente, sem que me tivessem marcado muito. A poesia paterna, que encontrara numa gaveta velha em casa, foi a minha grande decisiva influência. Desejei imenso fazer versos assim, versos de amor, despidos das idéias grandiloqüentes que assustavam no vate baiano e do brilho de joalheria que cegava no artífice da "Via Láctea".
Junto de ti, ó minha amada
Passam-se os dias a voar
Se longe estou, como apressada
Minha alma à tua quer chegar!
Posso citá-los ainda de cor. Causaram-me inveja e me fizeram sofrer. Pensei que nunca poderia ser poeta.
Chorei. Cheguei ao furto. Uma vez mostrei a alguns conhecidos um que me parecia o melhor, como se fora meu. Assinei meu nome embaixo. Na noite desse dia tive uma das maiores crises por que já passei neste meu fadário. Pensei pela primeira vez em me suicidar.
Depois, fui crescendo, como acontece na vida. Na Faculdade de Direito entrei em pasmo contacto com os grandes do CAJU, o centro da elite da escola. Era garoto e andava fardado de aspirante a oficial da reserva. Foi uma época rica e dolorosa, de lutas íntimas, de descobertas gloriosas, de ânsia e aspiração infindáveis. Otávio de Faria e San Thiago Dantas, dois dos nomes de maior projeção acadêmica, discutiam problemas de Poesia no Café do Areal. Ouvia quieto, mas com um ouvido gigante, as sentenças misteriosas, ditadas sabe Deus por que demônio, que na boca de San Thiago se prestigiavam de uma claridade que para mim tinha algo de sobrenatural, e que Otávio de Faria fazia sombrias, dilacerantes. A um devo uma amizade que através de tanta coisa vivida tem se mostrado sempre boa e generosa, amável no cotidiano mas atenta nos momentos difíceis. Ao outro devo a Amizade.
Foram esses dois homens que me iniciaram nos mistérios da Poesia. Falavam em Murilo Mendes e Augusto Frederico Schmidt. San Thiago Dantas lembrava-se às vezes do derradeiro:
O filósofo é como o galinho branco, pequenino, dormindo...
Eu pensava. Que não seria aquilo tudo? Filósofo... galinho branco... Realmente, uma sugestão qualquer, branca, assim como um idéia branca, a idéia branca de um filósofo, Platão, sei lá. Palmo a palmo conquistava a compreensão do incompreensível. Um dia ouvi um nome: Baudelaire. Outro: Rimbaud. Mais outro: Mallarmé. Outro ainda: Verlaine. E pus-me a ler.
Mas isso não vem ao caso. Com Murilo Mendes a coisa foi assim: achava-me passeando com Otávio de Faria pela Praia do Flamengo. De repente ele produziu uma brochura branca, quase quadrada, com o título Poemas em caracteres negros. Era Murilo Mendes. Minhas mãos estavam virgens ainda de qualquer nova poesia brasileira. Minha emoção foi grande.
Fiz perguntas, como era, como não era. Lemos alguns poemas juntos. Otávio criticava, de dentro da admiração real pelo poeta. Travei conhecimento com a questão do "sublime" e do "cotidiano" em Poesia. Ponderei coisas. Coisas me foram ponderadas.
Em casa li o livro até de manhã. Achei-o magistral em tudo, até no que tinha de artifício. A primeira impressão que o poeta me deu é de que vivia num espaço cristalizado em ângulos onde anjos cubistas salmodiavam ao som de saxofones. Todas essas adolescentes burguesas geométricas, essas meninas em eterna projeção e prolongamento, movia-as o poeta, transformado em mágico, como a novos títeres, através de versos como fios metálicos, num cenário fantástico de metrópoles cônicas, paisagens elásticas, ao som de melodias penetrantes.
Mais tarde, já com o primeiro livro publicado, conheci o poeta na Avenida, por intermédio de Otávio. Vinha deblaterando, o dedo em riste, uma gravata vermelha, o rosto azul de entalhe magro dignificado por uma testa vasta e dolorosa. Pôs-me a mão no ombro, depois me abraçou com longos braços dançarinos. Senti a imediata cordialidade do artista, a sua ânsia de comunhão. Disse-me palavras reconfortantes, de longe ainda me gritava coisas, escandalosamente.
Via-o depois em concertos, em conferências, ora mergulhado na música, ora apontando ondulante de uma multidão, a me enviar mensagens periódicas de fraternidade com a mão espantosa, quebradiça e exangue. E desde sempre Murilo Mendes foi um amigo. Ouço muito falar mal dele, de seu espírito fantástico, da teatralidade com que vive. Eu próprio já tenho sentido certa má-vontade - a minha má vontade de animal razoável - contra o poeta nos seus momentos de irrisão declamatória. Mas que me deixem dizer: a par de ser um grande poeta brasileiro, com um modo pessoalíssimo para a Poesia, Murilo Mendes é um puro e um coração bom, não direi como a água, de que não gosto, mas como o uísque.
Com Augusto Frederico Schmidt foi diferente. Já em meio à primeira experiência poética, juntando os poemas que iriam dar O caminho para a distância, li Navio perdido. Tinha do poeta uma idéia que me perturbava um pouco. Ouvia falar dele como se fala dos gênios. Alguém sem pé nem cabeça, a quem não se leva muito a sério no que diz, uma pessoa variável, inconstante, passeando pela vida uma grande alma insatisfeita, ferida de Poesia. Dizia-se que o poeta era assim e o homem assado, que a vida do homem não traduzia a obra do poeta, a sua extraordinária mensagem lírica. Mensagem... o termo me pegou em cheio. Achei que mensagem é que era. Adotei mensagem. Quando Aporelli mexia com o bardo, aproveitando-se das suas levitações poéticas, eu me enfezava, achava um desrespeito, embora bem que risse. Navio perdido passou a ser o meu livro. Sentimentos comuns em face da Poesia, a vocação do "sublime", causa de que me fizera paladino, me aproximavam muito de Schmidt. Contudo, não gostei quando os críticos acharam grande semelhança de tons entre as duas poesias. Eu queria era ser pessoal, tinha uma vaidade danada disso. Pensava que ficar como continuador do lirismo schmidtiano era muita honra, mas não para mim. Minha extrema mocidade não admitia senão uma linha de frente geral. Todo mundo junto.
Um artigo de Manuel Bandeira me deixou louco. Hoje, pensando nessas coisas, dá-me uma grande ternura por mim mesmo. Que menino esplêndido eu era! Manuel Bandeira (isto é, o inimigo de então, o chefe da poesia do "cotidiano") ousava escrever, colocando meu livro do lado de vários outros, que eu realmente tinha vocação poética, mas que precisava muito abandonar o "tom schmidtiano", metrificar minhas linhas, deixar de muitas facilidades com o verso livre, que só é bom na mão dos mestres.
Como fiquei queimado! Achei que você não entendia nada de Poesia, Manuel, que você não era o Grande Poeta, vivendo a vida inefável dos símbolos misteriosos, dos rios loucos, das luas assexuadas, das mulheres trágicas e dos caminhos de Deus.
Mas, voltando a Schmidt. Uma noite vinha com Otávio de Faria pela rua Sachet. Ia ver meu livro que acabava de sair e que a Schmidt Editora distribuíra. À porta da famosa livraria, onde tanta coisa confusa já teve lugar, encontrava-se o poeta. Achei-o irreal, à primeira vista. Apertou-me a mão com um gesto que eu não soube se era de simpatia ou de zanga, porque ao mesmo tempo que me prendia fortemente, me mantinha a distância. Houve falta de jeito. Schmidt exclamou: "Ah, é esse!" Depois falou em Gilberto Amado, o qual teria dito que eu era "um alto". Ficou tudo meio atrapalhado, meio confuso. Eu queria ir-me embora, Otávio também, que não sabia como casar aqueles dois poetas. De volta, creio que fiz observações pouco gentis sobre o que ficara.
Durante um certo tempo, Schmidt passou a ser uma presença incômoda. Não havia crítica, notinha de jornal onde se mencionasse meu livro, que não falasse nos poetas irmãos, um prosseguindo no caminho que o outro abrira. A coisa para mim tomou um ar de pendenga, de corrida rasa, com Schmidt à frente, e eu em segundo, fazendo força para emparelhar.
Quando todas essas coisas passaram e a minha vaidade trancada começou a dar mofo, algumas saídas juntos, algumas conversas foram dissipando a impressão de ceci tuera celà que a presença de Schmidt me causava. Ia gostando dele, compreendendo-lhe o método lírico dentro do desarranjo formal, amando-lhe a inteligência de vôo tão largo. Hoje em dia vemo-nos menos, mas nos gostamos mais. Às vezes dá-me uma saudade do poeta, e eu tomo a iniciativa de ir visitá-lo no seu décimo andar sobre Copacabana. Mesmo porque, ele não me procura. Schmidt tolera pouco os intelectuais, e embora eu nunca converse "inteligente" com ele, creio que o poeta descansa mais o espírito britando pedra, por assim dizer, na companhia dos seus amigos homens de negócio, onde o troco inocente de idéias deixa às vezes saldo para uma das partes. Eu que, em companhia do poeta, já tive oportunidade de assistir a algumas dessas reuniões, acho que talvez ele é que esteja com a razão. Há um mistério agradável nesses homens de ar vagamente entendiado que vivem do gozo rápido das tiradas, que andam muito de táxi e percorrem numa noite vários ambientes, resolvendo uma mesma questão que nunca entre em jogo.
O encontro de Manuel Bandeira, que coisa excelente foi! Eu ainda tinha várias dificuldades em relação à poesia do poeta, mas intimamente mudara muito. Se no princípio me quisessem levar a ele, talvez tivesse relutado. Depois, não. Manuel me escrevera um cartão agradecendo a remessa de Forma e exegese, que me remexeu por dentro. Lia-o às vezes, a Manuel, invejando-lhe secretamente a sobriedade perfeita do verso, mas sempre em oposição ao modo de sua poesia. No fundo, achava que não se podia transigir assim com o Espírito, com a Fome metafisica, com a Visão. Mas, ai de mim, já amava o poeta. Meu coração de mulher da vida já batia por ele. Andava dando um jeito para encontrá-lo.
Anah e Carlos Chagas Filho deram-me o ensejo. Esses caros amigos, cuja casa da rua Jardim Botânico era para mim uma coisa perfeita de gosto e intimidade, providenciaram o encontro. O próprio Manuel, diziam eles, achava que a idéia de um jantar tinha seus pontos. E uma lagartixa resolveu a questão.
Eu havia chegado e esperava na sala, quando vi uma lagartixa branca. Parti a caçá-la, o que fiz com o maior cuidado para não magoar o bichinho frágil. E Manuel me pegou assim, com a lagartixa na concha da mão e aderiu imediatamente a ela. Dei-lhe um aperto de canhota, porque tinha a lagartixa na direita. O poeta esticou o pescoço, ficou observando o animalzinho com o seu perfil de pássaro, depois riu à-toa, um riso que mal parecia vir daquele siso sério. O riso me venceu. A ternura pelo poeta foi imediata. Um segundo depois estávamos conversando no sofá, eu brilhando discretamente para não chocar o amigo em perspectiva. Falou-se dos Mello Moraes, de poesia, de violão. Eu trouxera o violão, que era assim uma espécie de prato forte meu (nem tão forte, na verdade...) e que hoje em dia considero uma cruz. Cantei umas modas. Manuel parece que gostou.
Vi-o pela segunda vez no Salão de Belas-Artes. Foi quando me apresentou a Mário de Andrade. Fez-me as mesmas festas, perguntou pelo violão, falou vagamente em se marcar qualquer coisa. Mário de Andrade conservou-se "onézimo", segundo a gnomonia ovalleana, que é um modo sui generis de imparticipação.
Uma noite saímos juntos. Grande noite para mim, e Manuel, paternal, me levou ao cinema, me levou à Americana para tomarmos um malted milk, depois me levou ao Beco, onde subi sete andares num elevador vermelho, que pia feito gavião quando chega. Conheci seu quarto, esse quarto que às vezes tem sido para o poeta um lugar de tristezas; e que para mim tem sido tantas vezes um lugar de sossego. E banhei-me do verso exemplar de Estrela da manhã, ainda inédito, que o poeta leu para mim, ou melhor, que me jogou em cima, com aquele seu modo brusco de ler poesia.
Manuel é hoje em dia um ser à parte para mim. Todo o mundo tem seus dias de antipatia do amigo, suas brigas, suas caturrices. Chega-se mesmo a enjoar da pessoa, da presença, do modo de ser, de certos pequenos hábitos irritantes. Fica-se mesmo com uma tendência vaga a partir a cara, sem prejuízo grande para a amizade. Com Manuel, jamais! Nunca a menor bulha, mesmo dentro de um ou dois pontos de vista diferentes. Manuel aceita o amigo e se impõe a ele. É fiel, mas não intervém; presto, sem se fazer sentir. Parece Ronald Colman.
Mas eu tinha falado em Mário de Andrade. Mário foi uma conquista minha. O poeta, a princípio, não quis nada comigo. Fui-lhe mesmo apresentado umas duas ou três vezes, sem resultado. Fazia um ar, meu Deus, vaguíssimo, de ombros um pouco levantados.
Mas em São Paulo, que é sua casa, eu fui um dia à casa dele com Armandinho Sales de Oliveira, Mário de Andrade tinha dirigido um recital colosso, de modinhas do Império, de modo que estava no céu com o pé de fora. À saída, não me lembro mais por que, a uma pergunta de Armandinho eu respondi: "Tomara!" Mário de Andrade me pegou vivamente pelo braço. "Você também vem. Uma pessoa que fala tomara, tomara, meu Deus! - que gostosura! - tem direito a beber minha caninha. Ah, não! você vem!"
E eu fui. E eis como venci Mário de Andrade, pela linguagem. Em casa dele bebemos toda a garrafa de caninha. Houve grandes confraternizações. E hoje em dia, mal acabo de escrever um livro, corro para Mário de Andrade. Ele critica impiedosamente, inefavelmente. Anota as margens. Sinto que gosta de meus poemas, mas tem uma "diferença" qualquer com minha poesia. Eu o acho uma criatura esplêndida, com todas as suas manias. E que bom poeta! Poucos literatos no Brasil terão uma figura tão vasta e universal, apesar do seu fanático regionalismo. Conheço gente que o acha fiteiro. Mas a esses eu direi - lede-o para entendê-lo:
Muito de indústria me fiz careca
Abri salão nos meus pensamentos.
Ou ainda:
Danço para não chorar.
Também em São Paulo conheci Oswald, também de Andrade. Achava-me no Hotel Esplanada, no quarto de Manuel Bandeira, que deveria ir jantar com o poeta de Pau-Brasil. Ao saber quem eu era, prorrompeu em gargalhadas positivamente obscenas: "Então é esse menino, com esse ar esportivo, o autor daqueles versos compridos como um iole-a-8! Mas você não tem medo de fazer tanta força nessa regata desigual, seu poeta?"
Eu me abespinhei um pouco, mas não fiz má cara à piada. Dei uma em troca. E logo a cordialidade se estabeleceu. Saímos os três e jantamos em boa camaradagem. Oswald estava brilhantíssimo.
Procurava-o sempre que ia a São Paulo. Gostava de seu jeito e de sua casa. Boa casa para a gente se sentir à vontade, entre originais até de Picasso, vendo Oswald construir de um lado e arrasar de outro. O poeta tem a paixão da literatura. É um demolidor, rnas é, por outro lado, um espírito altamente construtivo. Gosto dos homens assim, mutáveis mas intransigentes enquanto crêem, bem raciados, os homens que gostam da sua casa e da sua mulher, não os femininos, os impotentes ou os fracos. Oswald tem essa grande qualidade macha que lhe dá sumo à vida. Quase todo o mundo o teme. Temo-lhe o destabocamento e a sátira irresponsável. Compreendo que não gostem dele. Mas no fundo é um homem fácil de se gostar, com um grande complexo sentimental de paternidade, um homem de coração gordo e violento.
Homem que vi estranho foi o poeta Carlos Drummond de Andrade. Conheci-o para lhe pedir um favor e desde então nunca mais fiz outra coisa. Mas já tenho ido lá para pedir-lhe o simples favor de vê-lo um pouco. Achei-o intratável a primeira vez, parecia um estilete e não um chefe de gabinete. Saí impressionado, pensando comigo que nunca poderia ser amigo de um sujeito assim.
Não sei se ele gosta de mim ou não, não me interessa. Eu o tenho em especial carinho. Invejo-lhe a poesia descarnada e lúcida, e como que iluminada por um sol fluido de aurora. Tenho em alta conta sua figura humana, seca e vibrátil, laminar. Não tem importância o modo como ele lhe trate, às vezes desconhecendo a sua ilustre pessoa. O que importa é que, uma noite, num bar, depois de uns chopes, a máscara do poeta esgarça-se num riso silencioso, que lhe vem de uma paisagem casta e longínqua na alma, e sua cabeça baixa se levanta, suas mãos mortas se reencarnam, e ele tamborila na mesa uma alegria rápida e extraordinária. E então se sabe que o poeta ama perdidamente:
Amor, a quanto me obrigas.
O poeta louco Jayme Ovalle, ou melhor, "o místico", como o chamou Manuel Bandeira, foi na minha vida um encontro de que não me esqueço. Conheci-o três dias depois de sua chegada da Europa, em casa de Schmidt. Tinha uma curiosidade enorme em vê-lo. Soube que andava fechado, não querendo receber ninguém, sofrendo as agruras da dor-sem-nome, roído de saudade da Inglaterra. Mas combinei uma tramóia com Schmidt e fui, com um ar de quem não quer. Encontrei o poeta no meio da sua garrafa de uísque, rodeado pelo grupo familial atento e respeitoso. Seu monóculo me recebeu mal, enquanto seu olho de águia me considerava com ar pouco amigável. Calei-me e fiquei quietinho, espiando passear o gênio.
Passado um tempo Ovalle sentou-se. Todos se voltaram para ele. Alguma coisa ia suceder. Mas ele limitou-se a falar fanhosamente para Schmidt: "Põe um Bachzinho aí na vitrola pra mim, põe?"
Só então se virou para o meu lado. Ficou me olhando um pouco, eu gelado mas firme, sorrindo um riso covarde. Ao fim de um tempo sorriu também.
- Ele é muito bonzinho - disse, apontando-me com o dedo. - Ele é tão bonzinho que um dia... que um dia ele é capaz de sair correndo assim, compreende, sair correndo assim, e aí...
Mas não cheguei a saber o que ia acontecer comigo no fim da corrida. Schmidt voltava com um livro de poemas do poeta, poemas ingleses, feitos na sua amada Londres. Ovalle relutou um pouco, mas acabou lendo quase tudo. Eu fiquei ouvindo sem compreender muita coisa, mas compreendo muita coisa do homem a que ouvia. Ovalle chorou, ajoelhou-se, às vezes se curvava até o chão para em seguida saltar como um calunga doido, falava música, fazia gestos tão patéticos que parecia querer se agarrar ao xale invisível de Nossa Senhora.
Juro que fiquei fisicamente cansado da emoção. Quando resolvi sair, o poeta quis vir comigo. E fomos juntos por Copacabana afora. Depois entramos num táxi para a cidade. Na cidade pusemo-nos a beber - e bebemos tanto que nem as estrelas do céu ou os peixinhos do mar fariam conta do que bebemos. A madrugada nos encontrou na Lapa, comendo um filé à moda com vinho verde. A expressão do poeta sossegara muito, e ele agora me contava sobre as coisas do mistério, num tom simples e persuasivo. Ouvi de sua boca a explicação integral da famosa Gnomonia. Ouvi-o falar de Bach e Beethoven. Ouvi-o exaltar as mulheres da vida. Mais tarde, às sete horas da manhã, assisti ao seu encontro com Manuel Bandeira, encontro emocionante, depois de quatro anos de ausência, e um pequena rusga. Do quarto de Manuel fui para a Censura Cinematográfica, onde dormi durante a projeção um sono de duas horas e liberei todas as fitas.
Até hoje, quando nos encontramos, sinto entre nós a fidelidade a esse primeiro encontro. Descobrimos coisas, fazemos caso de tudo, nunca há silêncio entre nós.
Meu amigo Pedro Nava, ou melhor, o dr. Pedro Nava, é um grande poeta brasileiro que também é médico. Um olho clínico, como dizem seus colegas. E eu digo amém, porque Pedro Nava é o meu médico. Já me diagnosticou uma apendicite, e guardo bem a lembrança - a última lembrança ao ser anestesiado - de seu olho clínico posto em tristeza diante da possibilidade de um trespasse meu. Pedro Nava, sendo como é meu amigo, contou-me mais tarde o medo que tivera que eu morresse, não tanto porque fosse eu paciente, mas porque era seu amigo. É verdade que se morre muito nesse negócio de operação, por mais que o cirurgião seja hábil, como era no meu caso. Tive um medo póstumo, quando o poeta me fez ver essa possibilidade.
Mas já que se falou em morrer, em se tratando de Morte o poeta Pedro Nava comparece e fica triste. Porque se trata de um ser votado à Morte, tanto em sua profissão, onde luta exemplarmente contra ela, como em sua poesia, onde é todo dela. Pedro Nava é o criador da idéia sinistra do defunto que todos nós carregamos conosco, a quem damos de comer e beber e para quem arranjamos mulher; defunto que se senta, se levanta, anda na rua, vai ao cinema, escova os dentes e, no fim da noite, se deita imóvel para imitar o descanso eterno.
Como se pode deduzir, Pedro Nava é um ser terrível, um perturbador da ordem, um russo. É o poeta russo Pedro, o grande. Só se sente bem ou no seu hospital, onde combate, com uma prudência de conhecedor a fundo, todos os candidatos à Morte; ou perturbando a alma alheia com sua grande tristeza - e por que não dizer dor-de-corno? - sua ternura úmida e animal de mastim fiel, e sua poesia lancinante.
É um grande Pedro! Travei relações com ele em casa de Rodrigo Mello Franco de Andrade - esse Rodrigo cuja amizade é para mim uma coisa extrema na vida - e o poeta batalhou para me manter a distância. Não queria mais saber de amigos, que são criaturas que atrapalham muito, sofrem, adoecem, morrem, é o diabo!
Mas pouco a pouco venci o poeta. Hoje ele é um desses quatro ou cinco que já não distingo mais em meu sentimento. É um homem espantosamente rico e inteligente. Não há balda, como se diz em Minas, que lhe passe. Sua capacidade inventiva, no domínio da psicologia lírica, é assombrosa. Marca não importa quem, com dois ou três traços essenciais. Sua poesia bissexta, como se diz, segundo a expressão de Prudente de Morais Neto - porque vem de raro em raro -, é excelente. Quem não leu "O defunto" não sabe o que é sugestão de morte. É o poema mais "incômodo" que há. Perturba o tempo todo, irremediavelmente.
Quando morto estiver meu corpo
Evitem os inúteis disfarces...
E por fim meu primo, meu amado primo, que também é Pedro e é o anjo dos "Dantas" - Prudente de Morais Neto. É preciso concentrar-se muito para dizer a menor das suas qualidades. Sua poesia - que ele chama bissexta - é o próprio lirismo. É um canto japonês. É o saquê. E fica-se sem saber o que admirar mais nesse homem: se essa alma que aninha tudo com o mesmo amor, o bem e o mal, o puro e o impuro; ou o seu espírito lógico, que separa com precisão matemática o justo do injusto, embora justificando a ambos.
Quem o vê a primeira vez pode bem achá-lo bobo - e muitos bobos têm caído nessa esparrela. Se eu tivesse que "procurar-lhe o bicho", diria talvez que Prudente parece um bom chantecler, com seu topete, seu olho azul, sua cabeça que lhe movimenta todo o corpo ao se voltar, e esse corpão genial, terne, terno, túmulo ideal para as confidências, os segredos, os sentimentos mais íntimos, as paixões mais puras, as contemplações mais extáticas.
Porque esse homem, de aparência burguesa e de inteligência prática, é um contemplativo. Não se irrita, não quer mal a ninguém, perdoa a injustiça que lhe fazem. Mas é justo e preciso como a luz elétrica. Não fica escaninho que lhe passe despercebido quando se volta para o julgamento de alguém ou de alguma coisa. Não tolera a mentira ou o engano. Prefere sofrer os males de uma verdade desnecessária que o remorso de uma mentira generosa. E isso não porque se ache demasiado íntegro diante da vida. Porque o erro o nauseia e desequilibra. Seu caminho é um doce movimento para a frente, um doce movimento de braços abertos.
Eu vos incito a amá-lo muito, vós que o não conheceis ou o admirais apenas. Não importa a posição em que estejais, direita, esquerda, centro avante, ou retaguarda. É preciso amá-lo com o maior carinho, com maior doçura e deixar que ele vos ame também, porque a glória desse mundo é pouca e o amor desse homem é uma grande glória.
Mas estou me tornando patético. Ou não estou? Não sei. Sei de uma coisa: que Prudente de Morais Neto, o criador da Cachorra, sobrinho de Manuel Bandeira e meu primo pelo coração, foi o homem mais exato que já vi até hoje. E a propósito disto, cabe uma consideração.
Que grupo excelente fazem todos esses homens! Olhem que estive viajando, conhecendo gente nova, tive contato com grandes poetas ingleses, ouvi-os falarem, vi outros grupos de homens de espírito; mas nada assim como eles. Essa força lírica, essa poesia magistral que estão criando para o Brasil, esse impacto de ternura e sordidez, essa coragem diante da vida, essa modéstia real, esse socorro mútuo, essa discrição e esse escândalo com que vivem, só os encontrei neles, aqui entre nós, nesses pequenos grupos dentro do grande Grupo. E faz um bem terrível pensar nisso. Que onde quase todos esperam recompensas, esses homens não esperam nada, apenas a fidelidade mútua. Que onde quase todos usam de processos turvos, muitas vezes inconfessáveis, esses homens agem limpamente, sem sequer se dar conta disso. Vivem em meio à ganância geral com armas desiguais, senão desarmados.
São almas caríssimas, perfeitas de sentimento. Quando se queixam o fazem na melhor poesia, mas porque o fazem assim se queixam pouco. Não transigem com a má literatura: sabem esperar o amadurecimento da palavra a fim de que ela não traga engano. E são homens que se iludem, sujeitos às mesmas tentações e às mesmas quedas, com a mesma sensação da própria fraqueza e da própria sordidez.
Mas neles até a sordidez é inefável. Eis o que os diferença. Neles a sordidez se transforma em poesia e a poesia em canto. E não é essa a maior grandeza do poeta? É possível ser-se poeta sem ser sórdido?
Discípulo ardente de Júlio Dantas, tendo escrito aos 14 anos um poema chamado "Os três amores", passei por Guerra Junqueiro em branco. Julgava-o um grande filósofo mais que um poeta, e temia-lhe o tom blasfemo. É que não lera ainda Os simples, onde está o melhor do seu lirismo. Nessa ocasião, fiz do sr. João Lira Filho mentor espiritual. Dei-lhe Foederis arca para ler. A Arca em aspas era um livrão de capa preta onde ia pondo os versos que me pareciam razoáveis. O sr. João Lira Filho não se agradou da poesia. Deu-me uns conselhos: que eu deixasse daquilo, que poesia era "frescura" e "abandono", que meus sonetos eram "muito ruins" e só as trovinhas "onde você procura imitar Adelmar é que são mais ou menos". A palavra "abandono" que interpretei mal, feriu-me a suscetibilidade juvenil. Larguei do sr. João Lira Filho e do seu mestre da Academia e dei com Guilherme de Almeida. Aquilo é que era poeta! Como é que o homem fazia aquelas coisas, que perfeição!
O relógio de mogno, grave, enorme
Dorme
Meu olhar se concentrava sobre a magia da palavra "mogno". Se me perguntassem o que era Poesia, eu diria que era aquela palavra feiticeira. Lembro-me que fiz um verso onde falava "em teus seios de mogno e teus lábios de écran". Meus poemas redundavam em diálogos sutilíssimos entre a amada e eu, passavam-se sempre numa casa de chá elegante ou num ônibus de luxo, tinham de Toi et moi, que felizmente só vim a ler mais tarde.
Castro Alves e Bilac não me fizeram grande impressão. Li-os apressadamente, sem que me tivessem marcado muito. A poesia paterna, que encontrara numa gaveta velha em casa, foi a minha grande decisiva influência. Desejei imenso fazer versos assim, versos de amor, despidos das idéias grandiloqüentes que assustavam no vate baiano e do brilho de joalheria que cegava no artífice da "Via Láctea".
Junto de ti, ó minha amada
Passam-se os dias a voar
Se longe estou, como apressada
Minha alma à tua quer chegar!
Posso citá-los ainda de cor. Causaram-me inveja e me fizeram sofrer. Pensei que nunca poderia ser poeta.
Chorei. Cheguei ao furto. Uma vez mostrei a alguns conhecidos um que me parecia o melhor, como se fora meu. Assinei meu nome embaixo. Na noite desse dia tive uma das maiores crises por que já passei neste meu fadário. Pensei pela primeira vez em me suicidar.
Depois, fui crescendo, como acontece na vida. Na Faculdade de Direito entrei em pasmo contacto com os grandes do CAJU, o centro da elite da escola. Era garoto e andava fardado de aspirante a oficial da reserva. Foi uma época rica e dolorosa, de lutas íntimas, de descobertas gloriosas, de ânsia e aspiração infindáveis. Otávio de Faria e San Thiago Dantas, dois dos nomes de maior projeção acadêmica, discutiam problemas de Poesia no Café do Areal. Ouvia quieto, mas com um ouvido gigante, as sentenças misteriosas, ditadas sabe Deus por que demônio, que na boca de San Thiago se prestigiavam de uma claridade que para mim tinha algo de sobrenatural, e que Otávio de Faria fazia sombrias, dilacerantes. A um devo uma amizade que através de tanta coisa vivida tem se mostrado sempre boa e generosa, amável no cotidiano mas atenta nos momentos difíceis. Ao outro devo a Amizade.
Foram esses dois homens que me iniciaram nos mistérios da Poesia. Falavam em Murilo Mendes e Augusto Frederico Schmidt. San Thiago Dantas lembrava-se às vezes do derradeiro:
O filósofo é como o galinho branco, pequenino, dormindo...
Eu pensava. Que não seria aquilo tudo? Filósofo... galinho branco... Realmente, uma sugestão qualquer, branca, assim como um idéia branca, a idéia branca de um filósofo, Platão, sei lá. Palmo a palmo conquistava a compreensão do incompreensível. Um dia ouvi um nome: Baudelaire. Outro: Rimbaud. Mais outro: Mallarmé. Outro ainda: Verlaine. E pus-me a ler.
Mas isso não vem ao caso. Com Murilo Mendes a coisa foi assim: achava-me passeando com Otávio de Faria pela Praia do Flamengo. De repente ele produziu uma brochura branca, quase quadrada, com o título Poemas em caracteres negros. Era Murilo Mendes. Minhas mãos estavam virgens ainda de qualquer nova poesia brasileira. Minha emoção foi grande.
Fiz perguntas, como era, como não era. Lemos alguns poemas juntos. Otávio criticava, de dentro da admiração real pelo poeta. Travei conhecimento com a questão do "sublime" e do "cotidiano" em Poesia. Ponderei coisas. Coisas me foram ponderadas.
Em casa li o livro até de manhã. Achei-o magistral em tudo, até no que tinha de artifício. A primeira impressão que o poeta me deu é de que vivia num espaço cristalizado em ângulos onde anjos cubistas salmodiavam ao som de saxofones. Todas essas adolescentes burguesas geométricas, essas meninas em eterna projeção e prolongamento, movia-as o poeta, transformado em mágico, como a novos títeres, através de versos como fios metálicos, num cenário fantástico de metrópoles cônicas, paisagens elásticas, ao som de melodias penetrantes.
Mais tarde, já com o primeiro livro publicado, conheci o poeta na Avenida, por intermédio de Otávio. Vinha deblaterando, o dedo em riste, uma gravata vermelha, o rosto azul de entalhe magro dignificado por uma testa vasta e dolorosa. Pôs-me a mão no ombro, depois me abraçou com longos braços dançarinos. Senti a imediata cordialidade do artista, a sua ânsia de comunhão. Disse-me palavras reconfortantes, de longe ainda me gritava coisas, escandalosamente.
Via-o depois em concertos, em conferências, ora mergulhado na música, ora apontando ondulante de uma multidão, a me enviar mensagens periódicas de fraternidade com a mão espantosa, quebradiça e exangue. E desde sempre Murilo Mendes foi um amigo. Ouço muito falar mal dele, de seu espírito fantástico, da teatralidade com que vive. Eu próprio já tenho sentido certa má-vontade - a minha má vontade de animal razoável - contra o poeta nos seus momentos de irrisão declamatória. Mas que me deixem dizer: a par de ser um grande poeta brasileiro, com um modo pessoalíssimo para a Poesia, Murilo Mendes é um puro e um coração bom, não direi como a água, de que não gosto, mas como o uísque.
Com Augusto Frederico Schmidt foi diferente. Já em meio à primeira experiência poética, juntando os poemas que iriam dar O caminho para a distância, li Navio perdido. Tinha do poeta uma idéia que me perturbava um pouco. Ouvia falar dele como se fala dos gênios. Alguém sem pé nem cabeça, a quem não se leva muito a sério no que diz, uma pessoa variável, inconstante, passeando pela vida uma grande alma insatisfeita, ferida de Poesia. Dizia-se que o poeta era assim e o homem assado, que a vida do homem não traduzia a obra do poeta, a sua extraordinária mensagem lírica. Mensagem... o termo me pegou em cheio. Achei que mensagem é que era. Adotei mensagem. Quando Aporelli mexia com o bardo, aproveitando-se das suas levitações poéticas, eu me enfezava, achava um desrespeito, embora bem que risse. Navio perdido passou a ser o meu livro. Sentimentos comuns em face da Poesia, a vocação do "sublime", causa de que me fizera paladino, me aproximavam muito de Schmidt. Contudo, não gostei quando os críticos acharam grande semelhança de tons entre as duas poesias. Eu queria era ser pessoal, tinha uma vaidade danada disso. Pensava que ficar como continuador do lirismo schmidtiano era muita honra, mas não para mim. Minha extrema mocidade não admitia senão uma linha de frente geral. Todo mundo junto.
Um artigo de Manuel Bandeira me deixou louco. Hoje, pensando nessas coisas, dá-me uma grande ternura por mim mesmo. Que menino esplêndido eu era! Manuel Bandeira (isto é, o inimigo de então, o chefe da poesia do "cotidiano") ousava escrever, colocando meu livro do lado de vários outros, que eu realmente tinha vocação poética, mas que precisava muito abandonar o "tom schmidtiano", metrificar minhas linhas, deixar de muitas facilidades com o verso livre, que só é bom na mão dos mestres.
Como fiquei queimado! Achei que você não entendia nada de Poesia, Manuel, que você não era o Grande Poeta, vivendo a vida inefável dos símbolos misteriosos, dos rios loucos, das luas assexuadas, das mulheres trágicas e dos caminhos de Deus.
Mas, voltando a Schmidt. Uma noite vinha com Otávio de Faria pela rua Sachet. Ia ver meu livro que acabava de sair e que a Schmidt Editora distribuíra. À porta da famosa livraria, onde tanta coisa confusa já teve lugar, encontrava-se o poeta. Achei-o irreal, à primeira vista. Apertou-me a mão com um gesto que eu não soube se era de simpatia ou de zanga, porque ao mesmo tempo que me prendia fortemente, me mantinha a distância. Houve falta de jeito. Schmidt exclamou: "Ah, é esse!" Depois falou em Gilberto Amado, o qual teria dito que eu era "um alto". Ficou tudo meio atrapalhado, meio confuso. Eu queria ir-me embora, Otávio também, que não sabia como casar aqueles dois poetas. De volta, creio que fiz observações pouco gentis sobre o que ficara.
Durante um certo tempo, Schmidt passou a ser uma presença incômoda. Não havia crítica, notinha de jornal onde se mencionasse meu livro, que não falasse nos poetas irmãos, um prosseguindo no caminho que o outro abrira. A coisa para mim tomou um ar de pendenga, de corrida rasa, com Schmidt à frente, e eu em segundo, fazendo força para emparelhar.
Quando todas essas coisas passaram e a minha vaidade trancada começou a dar mofo, algumas saídas juntos, algumas conversas foram dissipando a impressão de ceci tuera celà que a presença de Schmidt me causava. Ia gostando dele, compreendendo-lhe o método lírico dentro do desarranjo formal, amando-lhe a inteligência de vôo tão largo. Hoje em dia vemo-nos menos, mas nos gostamos mais. Às vezes dá-me uma saudade do poeta, e eu tomo a iniciativa de ir visitá-lo no seu décimo andar sobre Copacabana. Mesmo porque, ele não me procura. Schmidt tolera pouco os intelectuais, e embora eu nunca converse "inteligente" com ele, creio que o poeta descansa mais o espírito britando pedra, por assim dizer, na companhia dos seus amigos homens de negócio, onde o troco inocente de idéias deixa às vezes saldo para uma das partes. Eu que, em companhia do poeta, já tive oportunidade de assistir a algumas dessas reuniões, acho que talvez ele é que esteja com a razão. Há um mistério agradável nesses homens de ar vagamente entendiado que vivem do gozo rápido das tiradas, que andam muito de táxi e percorrem numa noite vários ambientes, resolvendo uma mesma questão que nunca entre em jogo.
O encontro de Manuel Bandeira, que coisa excelente foi! Eu ainda tinha várias dificuldades em relação à poesia do poeta, mas intimamente mudara muito. Se no princípio me quisessem levar a ele, talvez tivesse relutado. Depois, não. Manuel me escrevera um cartão agradecendo a remessa de Forma e exegese, que me remexeu por dentro. Lia-o às vezes, a Manuel, invejando-lhe secretamente a sobriedade perfeita do verso, mas sempre em oposição ao modo de sua poesia. No fundo, achava que não se podia transigir assim com o Espírito, com a Fome metafisica, com a Visão. Mas, ai de mim, já amava o poeta. Meu coração de mulher da vida já batia por ele. Andava dando um jeito para encontrá-lo.
Anah e Carlos Chagas Filho deram-me o ensejo. Esses caros amigos, cuja casa da rua Jardim Botânico era para mim uma coisa perfeita de gosto e intimidade, providenciaram o encontro. O próprio Manuel, diziam eles, achava que a idéia de um jantar tinha seus pontos. E uma lagartixa resolveu a questão.
Eu havia chegado e esperava na sala, quando vi uma lagartixa branca. Parti a caçá-la, o que fiz com o maior cuidado para não magoar o bichinho frágil. E Manuel me pegou assim, com a lagartixa na concha da mão e aderiu imediatamente a ela. Dei-lhe um aperto de canhota, porque tinha a lagartixa na direita. O poeta esticou o pescoço, ficou observando o animalzinho com o seu perfil de pássaro, depois riu à-toa, um riso que mal parecia vir daquele siso sério. O riso me venceu. A ternura pelo poeta foi imediata. Um segundo depois estávamos conversando no sofá, eu brilhando discretamente para não chocar o amigo em perspectiva. Falou-se dos Mello Moraes, de poesia, de violão. Eu trouxera o violão, que era assim uma espécie de prato forte meu (nem tão forte, na verdade...) e que hoje em dia considero uma cruz. Cantei umas modas. Manuel parece que gostou.
Vi-o pela segunda vez no Salão de Belas-Artes. Foi quando me apresentou a Mário de Andrade. Fez-me as mesmas festas, perguntou pelo violão, falou vagamente em se marcar qualquer coisa. Mário de Andrade conservou-se "onézimo", segundo a gnomonia ovalleana, que é um modo sui generis de imparticipação.
Uma noite saímos juntos. Grande noite para mim, e Manuel, paternal, me levou ao cinema, me levou à Americana para tomarmos um malted milk, depois me levou ao Beco, onde subi sete andares num elevador vermelho, que pia feito gavião quando chega. Conheci seu quarto, esse quarto que às vezes tem sido para o poeta um lugar de tristezas; e que para mim tem sido tantas vezes um lugar de sossego. E banhei-me do verso exemplar de Estrela da manhã, ainda inédito, que o poeta leu para mim, ou melhor, que me jogou em cima, com aquele seu modo brusco de ler poesia.
Manuel é hoje em dia um ser à parte para mim. Todo o mundo tem seus dias de antipatia do amigo, suas brigas, suas caturrices. Chega-se mesmo a enjoar da pessoa, da presença, do modo de ser, de certos pequenos hábitos irritantes. Fica-se mesmo com uma tendência vaga a partir a cara, sem prejuízo grande para a amizade. Com Manuel, jamais! Nunca a menor bulha, mesmo dentro de um ou dois pontos de vista diferentes. Manuel aceita o amigo e se impõe a ele. É fiel, mas não intervém; presto, sem se fazer sentir. Parece Ronald Colman.
Mas eu tinha falado em Mário de Andrade. Mário foi uma conquista minha. O poeta, a princípio, não quis nada comigo. Fui-lhe mesmo apresentado umas duas ou três vezes, sem resultado. Fazia um ar, meu Deus, vaguíssimo, de ombros um pouco levantados.
Mas em São Paulo, que é sua casa, eu fui um dia à casa dele com Armandinho Sales de Oliveira, Mário de Andrade tinha dirigido um recital colosso, de modinhas do Império, de modo que estava no céu com o pé de fora. À saída, não me lembro mais por que, a uma pergunta de Armandinho eu respondi: "Tomara!" Mário de Andrade me pegou vivamente pelo braço. "Você também vem. Uma pessoa que fala tomara, tomara, meu Deus! - que gostosura! - tem direito a beber minha caninha. Ah, não! você vem!"
E eu fui. E eis como venci Mário de Andrade, pela linguagem. Em casa dele bebemos toda a garrafa de caninha. Houve grandes confraternizações. E hoje em dia, mal acabo de escrever um livro, corro para Mário de Andrade. Ele critica impiedosamente, inefavelmente. Anota as margens. Sinto que gosta de meus poemas, mas tem uma "diferença" qualquer com minha poesia. Eu o acho uma criatura esplêndida, com todas as suas manias. E que bom poeta! Poucos literatos no Brasil terão uma figura tão vasta e universal, apesar do seu fanático regionalismo. Conheço gente que o acha fiteiro. Mas a esses eu direi - lede-o para entendê-lo:
Muito de indústria me fiz careca
Abri salão nos meus pensamentos.
Ou ainda:
Danço para não chorar.
Também em São Paulo conheci Oswald, também de Andrade. Achava-me no Hotel Esplanada, no quarto de Manuel Bandeira, que deveria ir jantar com o poeta de Pau-Brasil. Ao saber quem eu era, prorrompeu em gargalhadas positivamente obscenas: "Então é esse menino, com esse ar esportivo, o autor daqueles versos compridos como um iole-a-8! Mas você não tem medo de fazer tanta força nessa regata desigual, seu poeta?"
Eu me abespinhei um pouco, mas não fiz má cara à piada. Dei uma em troca. E logo a cordialidade se estabeleceu. Saímos os três e jantamos em boa camaradagem. Oswald estava brilhantíssimo.
Procurava-o sempre que ia a São Paulo. Gostava de seu jeito e de sua casa. Boa casa para a gente se sentir à vontade, entre originais até de Picasso, vendo Oswald construir de um lado e arrasar de outro. O poeta tem a paixão da literatura. É um demolidor, rnas é, por outro lado, um espírito altamente construtivo. Gosto dos homens assim, mutáveis mas intransigentes enquanto crêem, bem raciados, os homens que gostam da sua casa e da sua mulher, não os femininos, os impotentes ou os fracos. Oswald tem essa grande qualidade macha que lhe dá sumo à vida. Quase todo o mundo o teme. Temo-lhe o destabocamento e a sátira irresponsável. Compreendo que não gostem dele. Mas no fundo é um homem fácil de se gostar, com um grande complexo sentimental de paternidade, um homem de coração gordo e violento.
Homem que vi estranho foi o poeta Carlos Drummond de Andrade. Conheci-o para lhe pedir um favor e desde então nunca mais fiz outra coisa. Mas já tenho ido lá para pedir-lhe o simples favor de vê-lo um pouco. Achei-o intratável a primeira vez, parecia um estilete e não um chefe de gabinete. Saí impressionado, pensando comigo que nunca poderia ser amigo de um sujeito assim.
Não sei se ele gosta de mim ou não, não me interessa. Eu o tenho em especial carinho. Invejo-lhe a poesia descarnada e lúcida, e como que iluminada por um sol fluido de aurora. Tenho em alta conta sua figura humana, seca e vibrátil, laminar. Não tem importância o modo como ele lhe trate, às vezes desconhecendo a sua ilustre pessoa. O que importa é que, uma noite, num bar, depois de uns chopes, a máscara do poeta esgarça-se num riso silencioso, que lhe vem de uma paisagem casta e longínqua na alma, e sua cabeça baixa se levanta, suas mãos mortas se reencarnam, e ele tamborila na mesa uma alegria rápida e extraordinária. E então se sabe que o poeta ama perdidamente:
Amor, a quanto me obrigas.
O poeta louco Jayme Ovalle, ou melhor, "o místico", como o chamou Manuel Bandeira, foi na minha vida um encontro de que não me esqueço. Conheci-o três dias depois de sua chegada da Europa, em casa de Schmidt. Tinha uma curiosidade enorme em vê-lo. Soube que andava fechado, não querendo receber ninguém, sofrendo as agruras da dor-sem-nome, roído de saudade da Inglaterra. Mas combinei uma tramóia com Schmidt e fui, com um ar de quem não quer. Encontrei o poeta no meio da sua garrafa de uísque, rodeado pelo grupo familial atento e respeitoso. Seu monóculo me recebeu mal, enquanto seu olho de águia me considerava com ar pouco amigável. Calei-me e fiquei quietinho, espiando passear o gênio.
Passado um tempo Ovalle sentou-se. Todos se voltaram para ele. Alguma coisa ia suceder. Mas ele limitou-se a falar fanhosamente para Schmidt: "Põe um Bachzinho aí na vitrola pra mim, põe?"
Só então se virou para o meu lado. Ficou me olhando um pouco, eu gelado mas firme, sorrindo um riso covarde. Ao fim de um tempo sorriu também.
- Ele é muito bonzinho - disse, apontando-me com o dedo. - Ele é tão bonzinho que um dia... que um dia ele é capaz de sair correndo assim, compreende, sair correndo assim, e aí...
Mas não cheguei a saber o que ia acontecer comigo no fim da corrida. Schmidt voltava com um livro de poemas do poeta, poemas ingleses, feitos na sua amada Londres. Ovalle relutou um pouco, mas acabou lendo quase tudo. Eu fiquei ouvindo sem compreender muita coisa, mas compreendo muita coisa do homem a que ouvia. Ovalle chorou, ajoelhou-se, às vezes se curvava até o chão para em seguida saltar como um calunga doido, falava música, fazia gestos tão patéticos que parecia querer se agarrar ao xale invisível de Nossa Senhora.
Juro que fiquei fisicamente cansado da emoção. Quando resolvi sair, o poeta quis vir comigo. E fomos juntos por Copacabana afora. Depois entramos num táxi para a cidade. Na cidade pusemo-nos a beber - e bebemos tanto que nem as estrelas do céu ou os peixinhos do mar fariam conta do que bebemos. A madrugada nos encontrou na Lapa, comendo um filé à moda com vinho verde. A expressão do poeta sossegara muito, e ele agora me contava sobre as coisas do mistério, num tom simples e persuasivo. Ouvi de sua boca a explicação integral da famosa Gnomonia. Ouvi-o falar de Bach e Beethoven. Ouvi-o exaltar as mulheres da vida. Mais tarde, às sete horas da manhã, assisti ao seu encontro com Manuel Bandeira, encontro emocionante, depois de quatro anos de ausência, e um pequena rusga. Do quarto de Manuel fui para a Censura Cinematográfica, onde dormi durante a projeção um sono de duas horas e liberei todas as fitas.
Até hoje, quando nos encontramos, sinto entre nós a fidelidade a esse primeiro encontro. Descobrimos coisas, fazemos caso de tudo, nunca há silêncio entre nós.
Meu amigo Pedro Nava, ou melhor, o dr. Pedro Nava, é um grande poeta brasileiro que também é médico. Um olho clínico, como dizem seus colegas. E eu digo amém, porque Pedro Nava é o meu médico. Já me diagnosticou uma apendicite, e guardo bem a lembrança - a última lembrança ao ser anestesiado - de seu olho clínico posto em tristeza diante da possibilidade de um trespasse meu. Pedro Nava, sendo como é meu amigo, contou-me mais tarde o medo que tivera que eu morresse, não tanto porque fosse eu paciente, mas porque era seu amigo. É verdade que se morre muito nesse negócio de operação, por mais que o cirurgião seja hábil, como era no meu caso. Tive um medo póstumo, quando o poeta me fez ver essa possibilidade.
Mas já que se falou em morrer, em se tratando de Morte o poeta Pedro Nava comparece e fica triste. Porque se trata de um ser votado à Morte, tanto em sua profissão, onde luta exemplarmente contra ela, como em sua poesia, onde é todo dela. Pedro Nava é o criador da idéia sinistra do defunto que todos nós carregamos conosco, a quem damos de comer e beber e para quem arranjamos mulher; defunto que se senta, se levanta, anda na rua, vai ao cinema, escova os dentes e, no fim da noite, se deita imóvel para imitar o descanso eterno.
Como se pode deduzir, Pedro Nava é um ser terrível, um perturbador da ordem, um russo. É o poeta russo Pedro, o grande. Só se sente bem ou no seu hospital, onde combate, com uma prudência de conhecedor a fundo, todos os candidatos à Morte; ou perturbando a alma alheia com sua grande tristeza - e por que não dizer dor-de-corno? - sua ternura úmida e animal de mastim fiel, e sua poesia lancinante.
É um grande Pedro! Travei relações com ele em casa de Rodrigo Mello Franco de Andrade - esse Rodrigo cuja amizade é para mim uma coisa extrema na vida - e o poeta batalhou para me manter a distância. Não queria mais saber de amigos, que são criaturas que atrapalham muito, sofrem, adoecem, morrem, é o diabo!
Mas pouco a pouco venci o poeta. Hoje ele é um desses quatro ou cinco que já não distingo mais em meu sentimento. É um homem espantosamente rico e inteligente. Não há balda, como se diz em Minas, que lhe passe. Sua capacidade inventiva, no domínio da psicologia lírica, é assombrosa. Marca não importa quem, com dois ou três traços essenciais. Sua poesia bissexta, como se diz, segundo a expressão de Prudente de Morais Neto - porque vem de raro em raro -, é excelente. Quem não leu "O defunto" não sabe o que é sugestão de morte. É o poema mais "incômodo" que há. Perturba o tempo todo, irremediavelmente.
Quando morto estiver meu corpo
Evitem os inúteis disfarces...
E por fim meu primo, meu amado primo, que também é Pedro e é o anjo dos "Dantas" - Prudente de Morais Neto. É preciso concentrar-se muito para dizer a menor das suas qualidades. Sua poesia - que ele chama bissexta - é o próprio lirismo. É um canto japonês. É o saquê. E fica-se sem saber o que admirar mais nesse homem: se essa alma que aninha tudo com o mesmo amor, o bem e o mal, o puro e o impuro; ou o seu espírito lógico, que separa com precisão matemática o justo do injusto, embora justificando a ambos.
Quem o vê a primeira vez pode bem achá-lo bobo - e muitos bobos têm caído nessa esparrela. Se eu tivesse que "procurar-lhe o bicho", diria talvez que Prudente parece um bom chantecler, com seu topete, seu olho azul, sua cabeça que lhe movimenta todo o corpo ao se voltar, e esse corpão genial, terne, terno, túmulo ideal para as confidências, os segredos, os sentimentos mais íntimos, as paixões mais puras, as contemplações mais extáticas.
Porque esse homem, de aparência burguesa e de inteligência prática, é um contemplativo. Não se irrita, não quer mal a ninguém, perdoa a injustiça que lhe fazem. Mas é justo e preciso como a luz elétrica. Não fica escaninho que lhe passe despercebido quando se volta para o julgamento de alguém ou de alguma coisa. Não tolera a mentira ou o engano. Prefere sofrer os males de uma verdade desnecessária que o remorso de uma mentira generosa. E isso não porque se ache demasiado íntegro diante da vida. Porque o erro o nauseia e desequilibra. Seu caminho é um doce movimento para a frente, um doce movimento de braços abertos.
Eu vos incito a amá-lo muito, vós que o não conheceis ou o admirais apenas. Não importa a posição em que estejais, direita, esquerda, centro avante, ou retaguarda. É preciso amá-lo com o maior carinho, com maior doçura e deixar que ele vos ame também, porque a glória desse mundo é pouca e o amor desse homem é uma grande glória.
Mas estou me tornando patético. Ou não estou? Não sei. Sei de uma coisa: que Prudente de Morais Neto, o criador da Cachorra, sobrinho de Manuel Bandeira e meu primo pelo coração, foi o homem mais exato que já vi até hoje. E a propósito disto, cabe uma consideração.
Que grupo excelente fazem todos esses homens! Olhem que estive viajando, conhecendo gente nova, tive contato com grandes poetas ingleses, ouvi-os falarem, vi outros grupos de homens de espírito; mas nada assim como eles. Essa força lírica, essa poesia magistral que estão criando para o Brasil, esse impacto de ternura e sordidez, essa coragem diante da vida, essa modéstia real, esse socorro mútuo, essa discrição e esse escândalo com que vivem, só os encontrei neles, aqui entre nós, nesses pequenos grupos dentro do grande Grupo. E faz um bem terrível pensar nisso. Que onde quase todos esperam recompensas, esses homens não esperam nada, apenas a fidelidade mútua. Que onde quase todos usam de processos turvos, muitas vezes inconfessáveis, esses homens agem limpamente, sem sequer se dar conta disso. Vivem em meio à ganância geral com armas desiguais, senão desarmados.
São almas caríssimas, perfeitas de sentimento. Quando se queixam o fazem na melhor poesia, mas porque o fazem assim se queixam pouco. Não transigem com a má literatura: sabem esperar o amadurecimento da palavra a fim de que ela não traga engano. E são homens que se iludem, sujeitos às mesmas tentações e às mesmas quedas, com a mesma sensação da própria fraqueza e da própria sordidez.
Mas neles até a sordidez é inefável. Eis o que os diferença. Neles a sordidez se transforma em poesia e a poesia em canto. E não é essa a maior grandeza do poeta? É possível ser-se poeta sem ser sórdido?
sexta-feira, abril 26
Refúgio
Conheço em mim uma imagem muito boa, e cada vez que eu quero eu a tenho, e cada vez que ela vem ela aparece toda. É a visão de uma floresta, e na floresta vejo a clareira verde, meio escura, rodeada das alturas das árvores, e no meio desse bom escuro estão muitas borboletas, um leão amarelo sentado, e eu sentada no chão bordando. As horas passam como muitos anos, e os anos se passam realmente, as borboletas cheias de grandes asas enfeitadas e o leão amarelo com manchas – mas essas manchas são apenas para que se veja que ele é amarelo, pelas manchas se vê como ele seria se não fosse amarelo. Por aí se vê quanto é precisa a minha visão. O bom dessa imagem é a penumbra, que não exige mais do que a capacidade de meus olhos e não ultrapassa minha visão. E ali estou eu, com borboleta, com leão. Minha clareira tem uns minérios, que são as cores. Só existe uma ameaça: é saber com apreensão que fora dali estou perdida, porque nem sequer será a floresta (esta eu conheço de antemão, por amor), será um campo vazio (e este eu conheço de antemão através do medo) – tão vazio que tanto me fará ir para um lado como para outro, um descampado tão sem tampa e sem cor de chão que nele eu nem sequer encontraria um bicho para mim. Ponho a apreensão de lado, suspiro para me refazer, e fico toda gostando de minha intimidade com o leão e as borboletas: nenhum de nós pensa, a gente só gosta. Também eu, nessa visão-refúgio, não sou em preto e branco: sem que eu me veja, sei que para eles eu sou colorida, embora sem ultrapassar a capacidade de visão deles, o que os inquietaria, e nós não somos inquietantes. Sou com manchas azuis e verdes só para estas mostrarem que não sou azul nem verde – olha só o que não sou! A penumbra é de um verde-escuro e úmido, eu sei que já disse isso mas repito por gosto de felicidade: quero a mesma coisa de novo e de novo. De modo que, como eu ia sentindo e dizendo, lá estamos. E estamos muito bem. Para falar a verdade, nunca estive tão bem. Por quê? Não quero saber por quê. Cada um de nós está no seu lugar, eu me submeto com prazer ao meu lugar de paz. Vou até repetir um pouco mais minha visão porque está ficando cada vez melhor: o leão amarelo pacífico e as borboletas voando caladas, eu sentada no chão bordando e nós assim cheios de gosto pela clareira verde. Nós somos contentes.
Clarice Lispector, "Todas as crônicas"
Clarice Lispector, "Todas as crônicas"
Velhos de Lisboa
Em suma: somos os velhos,
cheios de cuspo e conselhos,velhos que ninguém atura
a não ser a literatura
E outros velhos. (os novos
afirmam-se por maus modos
com os velhos). Senectude
é tempo não é virtude…
Decorativos? Talvez…
Mas por dentro “era uma
Vez…”
Velhas atrozes, saídas
de túgurios impossíveis,
disparam, raivoso, o dente
contra tudo e toda a gente.
Velhinhas de gargantilha
visitam o neto, a filha,
e levam bombons de creme
ou palitos “de la reine”.
A ler p’lo sistema Braille
Ó meus senhores escutai!
um velho tira dos dedos
profecias e enredos.
Outros mijam, fazem esgares,
têm poses e vagares
bem merecidos. Nos jardins,
descansam, depois, os rins.
Aqueleoutros (os coitados!)
imaginam-se poupados
pelo tempo, e às escondidas
partem p’ra novas sortidas…
Muito digno, o reformado
perora, e é respeitado
na leitaria: “A mulher
é em casa que se quer!”
Velhotes com mais olhinhos
que tu, fazem recadinhos,
pedem tabaco ao primeiro
e mostram pouco dinheiro…
E os que juntam capicuas
e fotos de mulheres nuas?
E os tontinhos, os gaiteiros,
que usam cravo e põem
cheiros?
(velhos a arrastar a asa
pago bem e vou a casa)
E a velha que se desleixa
e morre sem uma queixa?
E os que armam aos pardais
Nessas hortas e quintais?
(Quem acerta co’os botões
deste velho? Venha a cidade
ajudá-lo a abotoar
que não faz nada de mais!)
Velhos, ó meus queridos
velhos,
saltem-me para os joelhos:
vamos brincar?
Alexandre O’Neill
Imprevistos
Eu disse e repito: livros são tão vivos quanto as pessoas. Gritam, soluçam, silenciam, pregam, ensinam, sugerem, inspiram e podem ser usados, descartados e esquecidos.
Uma vez, quando tomei parte de uma homenagem ao professor Richard Moneygrand, em New Caledonia, Estados Unidos, depois das formalidades fui à sua casa para fechar a noite. Moneygrand estava muito feliz. Havia bebido bem, mas não perdera a compostura, pois nele o mero álcool apenas acentuava o seu desprendido amor pelos outros, inclusive pelos seus mais ferozes inimigos: o grupo contrário ao estudo do Brasil como algo distinto da “américa-latina” na sua universidade.
Na ocasião desse último trago, ele comentou comigo que havia tido uma conversa extraordinária com uma mulher e como essa criatura lhe fora simpática, amável e até mesmo atraente, apesar da idade. “Tive com ela – disse-me com um ar que transpirava a felicidade da ocasião – um encontro notável. Ela sabia muito da minha obra, conhecia alguns detalhes das minhas viagens ao Brasil e, mais que tudo, tinha simpatia pelas minhas opiniões. Mas veja como são as coisas… eu não me lembro do seu nome – como a memória é imprevista.”
“Dick – repliquei -, aquele senhora simpática era Lana, sua terceira esposa, lembra?” Meu velho mentor arregalou os olhos, soltou uma das suas vastas gargalhadas e após dar um beijinho na sua quarta ou quinta mulher (agora eu é que não lembro), a Susan Smith, já substituída por outras, repetiu o seu velho refrão: “A cada nova pesquisa e livro – uma esposa nova ou uma nova esposa!”. Disse ele piscando um olho muito azul em direção à minha cara de pateta, sempre paralisado pela culpa.
Voltemos, porém, aos livros. Eles são esquecidos, mas podem ser sempre lembrados, pois mudam as nossas vidas.
Não me esqueço da minha primeira leitura de Dom Casmurro, realizada numa aldeia apinaié pelos idos dos anos 60. Peguei o livro certo de que ele ia me conduzir ao sono que dribla a solidão, mas ocorreu o justo oposto. Fui enredado pelo texto até o amanhecer porque um lado meu queria ver Capitu castigada; enquanto um outro recordava um beijo enviesado, exatamente igual ao de Bentinho, e isso me fazia duvidar da infâmia da heroína, obrigando-me a desconfiar de uma exposição feita por um sujeito tão ciumento quanto eu.
Os leitores de Isaiah Berlin sabem como ele criticou modelos e verdades absolutas desde que, ainda criança, passou pelo trauma de testemunhar, em fevereiro de 1917, um grupo arrastando um policial czarista numa rua de Petrogrado. Sua trajetória intelectual, contada num memorável ensaio autobiográfico na The New York Review of Books (de maio de 1998), é uma confissão de como os livros dos grandes pensadores iluministas, produtores de certezas sobre as famosas leis da história e da sociedade – parte de uma philosophia perennis -, foram substituídos pelo encontro com o A Ciência Nova, de Giambattista Vico, e com os ensaios sobre a linguagem e a história de Johann Gottfried von Herder. Vico tornou Berlin consciente dos valores que fazem com que as ações tenham sentido para quem as faz. Para ele, o verdadeiro conhecimento não é saber como as coisas são, mas como as coisas são o que são. Um lugar somente alcançado quando se penetra nos motivos, temores, esperanças e ambições dos outros. Podemos fazer isso porque, como eles, somos humanos e também movidos por contradições, dúvidas e limites. Nossos imprevistos ajudam a compreender imprevistos. Com Herder, Berlin percebeu que culturas diferentes davam respostas diferentes a problemas igualmente diferentes. Ele, assim, aprendeu a duvidar de verdades eternas e inquestionáveis, supostamente corretas para todos os homens em todo tempo e lugar.
Esses fundadores da antropologia cultural, fizeram com que Isaiah Berlin duvidasse das ideias que se apresentavam como verdades objetivas escritas no céu e prontas para serem copiadas. A leitura de Vico e Herder revelou como as verdades eram criadas pelos homens. Valores não são encontrados, mas fabricados. Quando um poeta faz uma poesia em português ele não apenas usa a língua: ele a reinventa. Um membro de uma sociedade é uma expressão e, ao mesmo tempo, um fazedor da sua sociedade. A singularidade conta tanto ou mais do que o geral e o universal.
Lamento não ter espaço para elaborar essas desassossegadas ideias. Mas elas mostram como os livros, como as pessoas, falam, ensinam, influenciam e dizem coisas de modo tão concreto quanto um amigo ou um inimigo.
Na casa de Miriam e Eduardo Raposo, onde fui celebrar os elos de simpatia que cimentam o departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, ouvi do filho do casal, o Ian, a seguinte história:
“Professor Roberto, olhe o que me aconteceu. Estava na praia e dela brotou um hippie que vendia artesanato. Ele havia abandonado sua casa e família para viver na rua. Curioso, perguntei o que o havia feito tomar esse caminho. A resposta lhe interessa, professor. Ele me disse o seguinte: eu decidi largar tudo depois de ter lido um dos livros do Roberto DaMatta”.
– Qual? Perguntei entre o aflito e o curioso.
– Não me lembro. Talvez A Casa e a Rua ou Carnavais. Malandros e Heróis…
– É, pode ser… Concluí assustado com o poder dos livros.
Uma vez, quando tomei parte de uma homenagem ao professor Richard Moneygrand, em New Caledonia, Estados Unidos, depois das formalidades fui à sua casa para fechar a noite. Moneygrand estava muito feliz. Havia bebido bem, mas não perdera a compostura, pois nele o mero álcool apenas acentuava o seu desprendido amor pelos outros, inclusive pelos seus mais ferozes inimigos: o grupo contrário ao estudo do Brasil como algo distinto da “américa-latina” na sua universidade.
Na ocasião desse último trago, ele comentou comigo que havia tido uma conversa extraordinária com uma mulher e como essa criatura lhe fora simpática, amável e até mesmo atraente, apesar da idade. “Tive com ela – disse-me com um ar que transpirava a felicidade da ocasião – um encontro notável. Ela sabia muito da minha obra, conhecia alguns detalhes das minhas viagens ao Brasil e, mais que tudo, tinha simpatia pelas minhas opiniões. Mas veja como são as coisas… eu não me lembro do seu nome – como a memória é imprevista.”
“Dick – repliquei -, aquele senhora simpática era Lana, sua terceira esposa, lembra?” Meu velho mentor arregalou os olhos, soltou uma das suas vastas gargalhadas e após dar um beijinho na sua quarta ou quinta mulher (agora eu é que não lembro), a Susan Smith, já substituída por outras, repetiu o seu velho refrão: “A cada nova pesquisa e livro – uma esposa nova ou uma nova esposa!”. Disse ele piscando um olho muito azul em direção à minha cara de pateta, sempre paralisado pela culpa.
*
Voltemos, porém, aos livros. Eles são esquecidos, mas podem ser sempre lembrados, pois mudam as nossas vidas.
Não me esqueço da minha primeira leitura de Dom Casmurro, realizada numa aldeia apinaié pelos idos dos anos 60. Peguei o livro certo de que ele ia me conduzir ao sono que dribla a solidão, mas ocorreu o justo oposto. Fui enredado pelo texto até o amanhecer porque um lado meu queria ver Capitu castigada; enquanto um outro recordava um beijo enviesado, exatamente igual ao de Bentinho, e isso me fazia duvidar da infâmia da heroína, obrigando-me a desconfiar de uma exposição feita por um sujeito tão ciumento quanto eu.
*
Os leitores de Isaiah Berlin sabem como ele criticou modelos e verdades absolutas desde que, ainda criança, passou pelo trauma de testemunhar, em fevereiro de 1917, um grupo arrastando um policial czarista numa rua de Petrogrado. Sua trajetória intelectual, contada num memorável ensaio autobiográfico na The New York Review of Books (de maio de 1998), é uma confissão de como os livros dos grandes pensadores iluministas, produtores de certezas sobre as famosas leis da história e da sociedade – parte de uma philosophia perennis -, foram substituídos pelo encontro com o A Ciência Nova, de Giambattista Vico, e com os ensaios sobre a linguagem e a história de Johann Gottfried von Herder. Vico tornou Berlin consciente dos valores que fazem com que as ações tenham sentido para quem as faz. Para ele, o verdadeiro conhecimento não é saber como as coisas são, mas como as coisas são o que são. Um lugar somente alcançado quando se penetra nos motivos, temores, esperanças e ambições dos outros. Podemos fazer isso porque, como eles, somos humanos e também movidos por contradições, dúvidas e limites. Nossos imprevistos ajudam a compreender imprevistos. Com Herder, Berlin percebeu que culturas diferentes davam respostas diferentes a problemas igualmente diferentes. Ele, assim, aprendeu a duvidar de verdades eternas e inquestionáveis, supostamente corretas para todos os homens em todo tempo e lugar.
Esses fundadores da antropologia cultural, fizeram com que Isaiah Berlin duvidasse das ideias que se apresentavam como verdades objetivas escritas no céu e prontas para serem copiadas. A leitura de Vico e Herder revelou como as verdades eram criadas pelos homens. Valores não são encontrados, mas fabricados. Quando um poeta faz uma poesia em português ele não apenas usa a língua: ele a reinventa. Um membro de uma sociedade é uma expressão e, ao mesmo tempo, um fazedor da sua sociedade. A singularidade conta tanto ou mais do que o geral e o universal.
Lamento não ter espaço para elaborar essas desassossegadas ideias. Mas elas mostram como os livros, como as pessoas, falam, ensinam, influenciam e dizem coisas de modo tão concreto quanto um amigo ou um inimigo.
*
Na casa de Miriam e Eduardo Raposo, onde fui celebrar os elos de simpatia que cimentam o departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, ouvi do filho do casal, o Ian, a seguinte história:
“Professor Roberto, olhe o que me aconteceu. Estava na praia e dela brotou um hippie que vendia artesanato. Ele havia abandonado sua casa e família para viver na rua. Curioso, perguntei o que o havia feito tomar esse caminho. A resposta lhe interessa, professor. Ele me disse o seguinte: eu decidi largar tudo depois de ter lido um dos livros do Roberto DaMatta”.
– Qual? Perguntei entre o aflito e o curioso.
– Não me lembro. Talvez A Casa e a Rua ou Carnavais. Malandros e Heróis…
– É, pode ser… Concluí assustado com o poder dos livros.
Roberto Damatta
quinta-feira, abril 25
O triunfo dos imbecis
Não nos deve surpreender que, a maior parte das vezes, os imbecis triunfem mais no mundo do que os grandes talentos. Enquanto estes têm por vezes de lutar contra si próprios e, como se isso não bastasse, contra todos os medíocres que detestam toda e qualquer forma de superioridade, o imbecil, onde quer que vá, encontra-se entre os seus pares, entre companheiros e irmãos e é, por espírito de corpo instintivo, ajudado e protegido. O estúpido só profere pensamentos vulgares de forma comum, pelo que é imediatamente entendido e aprovado por todos, ao passo que o gênio tem o vício terrível de se contrapor às opiniões dominantes e querer subverter, juntamente com o pensamento, a vida da maioria dos outros.
Isto explica por que as obras escritas e realizadas pelos imbecis são tão abundante e solicitamente louvadas – os juízes são, quase na totalidade, do mesmo nível e dos mesmos gostos, pelo que aprovam com entusiasmo as ideias e paixões medíocres, expressas por alguém um pouco menos medíocre do que eles.
Este favor quase universal que acolhe os frutos da imbecilidade instruída e temerária aumenta a sua já copiosa felicidade. A obra do grande, ao invés, só pode ser entendida e admirada pelos seus pares, que são, em todas as gerações, muito poucos, e apenas com o tempo esses poucos conseguem impô-la à apreciação idiota e bovina da maioria. A maior vitória dos néscios consiste em obrigar, com certa frequência, os sábios a atuar e falar deles, quer para levar uma vida mais calma, quer para a salvar nos dias da epidemia aguda da loucura universal.
Giovanni Papini, "Relatório sobre os homens"
Isto explica por que as obras escritas e realizadas pelos imbecis são tão abundante e solicitamente louvadas – os juízes são, quase na totalidade, do mesmo nível e dos mesmos gostos, pelo que aprovam com entusiasmo as ideias e paixões medíocres, expressas por alguém um pouco menos medíocre do que eles.
Este favor quase universal que acolhe os frutos da imbecilidade instruída e temerária aumenta a sua já copiosa felicidade. A obra do grande, ao invés, só pode ser entendida e admirada pelos seus pares, que são, em todas as gerações, muito poucos, e apenas com o tempo esses poucos conseguem impô-la à apreciação idiota e bovina da maioria. A maior vitória dos néscios consiste em obrigar, com certa frequência, os sábios a atuar e falar deles, quer para levar uma vida mais calma, quer para a salvar nos dias da epidemia aguda da loucura universal.
Giovanni Papini, "Relatório sobre os homens"
A volta da tunga dos livreiros
Reapareceu no Senado a velha ideia de tabelar os livros. Ela circula há mais de dez anos e, em 2018, esteve perto de sair, tramitando pelo escurinho de Brasília. É um caso especial de tabelamento, pois, enquanto o costume é tabelar uma mercadoria para impedir que se cobre a mais, nessa girafa pretende-se impedir que o comerciante cobre menos.
Desta vez, a tentativa de tabelamento parte do Senado. Lá, a senadora Teresa Leitão desarquivou um velho projeto propondo que, ao lançar um livro, a editora estabeleça um preço. Nos primeiros 12 meses, as livrarias não podem oferecer descontos superiores a 10%. Vai-se além: numa segunda edição, o tabelamento vigoraria por outros seis meses.
No século passado, um jovem chamado Jeff Bezos trabalhava no mercado financeiro e queria mudar de vida. Foi a uma série de palestras de editores e livreiros, surpreendeu-se com a imperfeição daquele mercado e teve uma ideia: fundou a Amazon.
Começou num galpão em Seattle vendendo livros pela internet e deu no que deu. Bezos revolucionou o mercado de livros e o próprio varejo. Entrega rápido e dá descontos. Hoje a Amazon é a maior livraria do mundo. Estima-se que tenha conquistado metade do mercado de livros no Brasil. Em seu rastro, editoras e outras empresas criaram serviços de vendas on-line. Algumas, como a rede varejista Americanas, deram com os burros n’água. Foi-se ver, e a rede havia sido saqueada.
Todo o comércio de varejo passa pela destruição criadora do capitalismo. Num primeiro momento, os supermercados tomaram uma fatia do comércio às lojinhas da rua. Depois, veio o comércio eletrônico redesenhando a venda de livros a xampus. Mas só os livreiros querem tabelar seus produtos.
Os livreiros têm uma aura apostolar. Afinal, um livro não seria um sabonete. Ilusão. Livros, sabonetes e caminhões são mercadorias. Tanto é assim que, há muitos anos, quando era mais barato imprimir um livro na China, algumas editoras passaram a rodá-los em Xangai, trazendo os volumes para o Brasil. As duas maiores redes de livrarias nacionais quebraram, muito mais por causa de suas acrobacias financeiras que pela concorrência. Quando as grandes redes afogavam as pequenas livrarias, ninguém falava em tabelamento.
Reclama-se que o freguês vai a uma livraria, consulta os volumes e, ao voltar para casa, encomenda-o eletronicamente. Os comerciantes que fazem essa reclamação fazem compras on-line e não pensam em tabelar os sanduíches. Ademais, todas as grandes editoras têm operações de venda eletrônica. Se cobram mais caro ou forçam a venda de livros físicos em detrimento dos e-books (mais baratos), o problema é delas.
O tabelamento de livros existe em outros países, como França, Alemanha e Espanha. A ideia é ruim, mas deve-se admitir que essas nações funcionam direito. Valeria a pena copiar também seus sistemas de saúde e educação públicos. Copiando só o tabelamento dos livros, o Brasil correria atrás de uma jabuticaba passada. Replica-se o que há de pior, reprimindo o que há de novo.
Desta vez, a tentativa de tabelamento parte do Senado. Lá, a senadora Teresa Leitão desarquivou um velho projeto propondo que, ao lançar um livro, a editora estabeleça um preço. Nos primeiros 12 meses, as livrarias não podem oferecer descontos superiores a 10%. Vai-se além: numa segunda edição, o tabelamento vigoraria por outros seis meses.
No século passado, um jovem chamado Jeff Bezos trabalhava no mercado financeiro e queria mudar de vida. Foi a uma série de palestras de editores e livreiros, surpreendeu-se com a imperfeição daquele mercado e teve uma ideia: fundou a Amazon.
Começou num galpão em Seattle vendendo livros pela internet e deu no que deu. Bezos revolucionou o mercado de livros e o próprio varejo. Entrega rápido e dá descontos. Hoje a Amazon é a maior livraria do mundo. Estima-se que tenha conquistado metade do mercado de livros no Brasil. Em seu rastro, editoras e outras empresas criaram serviços de vendas on-line. Algumas, como a rede varejista Americanas, deram com os burros n’água. Foi-se ver, e a rede havia sido saqueada.
Todo o comércio de varejo passa pela destruição criadora do capitalismo. Num primeiro momento, os supermercados tomaram uma fatia do comércio às lojinhas da rua. Depois, veio o comércio eletrônico redesenhando a venda de livros a xampus. Mas só os livreiros querem tabelar seus produtos.
Os livreiros têm uma aura apostolar. Afinal, um livro não seria um sabonete. Ilusão. Livros, sabonetes e caminhões são mercadorias. Tanto é assim que, há muitos anos, quando era mais barato imprimir um livro na China, algumas editoras passaram a rodá-los em Xangai, trazendo os volumes para o Brasil. As duas maiores redes de livrarias nacionais quebraram, muito mais por causa de suas acrobacias financeiras que pela concorrência. Quando as grandes redes afogavam as pequenas livrarias, ninguém falava em tabelamento.
Reclama-se que o freguês vai a uma livraria, consulta os volumes e, ao voltar para casa, encomenda-o eletronicamente. Os comerciantes que fazem essa reclamação fazem compras on-line e não pensam em tabelar os sanduíches. Ademais, todas as grandes editoras têm operações de venda eletrônica. Se cobram mais caro ou forçam a venda de livros físicos em detrimento dos e-books (mais baratos), o problema é delas.
O tabelamento de livros existe em outros países, como França, Alemanha e Espanha. A ideia é ruim, mas deve-se admitir que essas nações funcionam direito. Valeria a pena copiar também seus sistemas de saúde e educação públicos. Copiando só o tabelamento dos livros, o Brasil correria atrás de uma jabuticaba passada. Replica-se o que há de pior, reprimindo o que há de novo.
O sonho de Coleridge
O fragmento lírico Kubla Khan (cinquenta e tantos versos rimados e irregulares, de prosódia requintada) foi sonhado pelo poeta inglês Samuel Taylor Coleridge em um dia de verão de 1797. Coleridge escreve que se havia retirado para uma granja nos confins de Exmoor, quando uma indisposição obrigou-o a tomar um hipnótico. O sono venceu-o momentos depois da leitura de Purchas, que narra a edificação de um palácio por Kubla Khan, o imperador que deve sua fama ocidental a Marco Polo. No sonho de Coleridge, o texto lido casualmente começou a germinar e a multiplicar-se; o homem que dormia intuiu uma série de imagens visuais, e, simplesmente, de palavras que as manifestavam. Ao cabo de algumas horas despertou com a certeza de haver composto, ou recebido, um poema de cerca de trezentos versos. Lembrava-se deles com singular clareza e conseguiu terminar um fragmento que figura em suas obras. Uma visita inesperada interrompeu-o e lhe foi impossível, depois disso, lembrar-se do resto.
“Descobri, com não pequena surpresa e mortificação — conta Coleridge — que embora retivesse de um modo vago a forma geral da visão, tudo o mais, salvo umas oito ou dez linhas soltas, havia desaparecido assim como as imagens na superfície de um rio no qual se joga uma pedra, porém — ai de mim! — sem a sua ulterior restauração”. Swinburne sentiu que o que fora resgatado representava o mais alto exemplo da música do inglês e que o homem capaz de analisá-lo poderia (a metáfora é de John Keats) destecer um arco-íris. As traduções ou resumos de poemas cuja virtude fundamental é a música, são vãs e podem ser prejudiciais; que nos baste reter, por agora, que a Coleridge foi dada em um sonho uma página de indiscutível esplendor.
Outro exemplo clássico de cerebração inconsciente é o de Robert Louis Stevenson, a quem um sonho (segundo ele mesmo conta em Chapter on Dreams) lhe deu o argumento de Olalla e outro, em 1884, o de Dr. Jekill and Mr. Hyde. Tartini quis imitar na vigília a música de um sonho; Stevenson recebeu do sonho argumentos, quer dizer, formas gerais; mais afim à inspiração verbal de Coleridge é a que Beda o Venerável atribui a Caedmon (Historia ecclessiastica gentis Anglocum, IV, 24).
À primeira vista o sonho de Coleridge corre o risco de parecer menos assombroso que o de seu precursor. Kubla Khan é uma composição admirável e as nove linhas do hino sonhado por Coleridge quase não apresentam outra virtude além de sua origem onírica, porém, Coleridge já era um poeta e a Caedmon foi revelada uma vocação. Não obstante, há um fato anterior que magnifica até os limites do insondável a maravilha do sonho em que se engendrou Kubla Khan. Se este fato é verdadeiro, a história do sonho de Coleridge é anterior em muitos séculos a Coleridge e ainda não chegou ao seu fim.
O poeta sonhou em 1797 (outros acham que foi em 1798) e publicou o seu relato do sonho em 1806, a maneira de glosa ou justificativa do poema inconcluso. Vinte anos depois apareceu em Paris, fragmentariamente, a primeira versão ocidental de uma destas histórias universais em que a literatura persa é tão rica, o Compêndio de histórias de Rashid ed-Din, que data do século XIV. Em uma página se lê: “A leste de Shang-tu, Kubla Khan erigiu um palácio, segundo um plano que havia visto em um sonho e que guardava na memória”. Quem escreveu isto foi o vizir de Gashan Mahmud, que descendia de Kubla.
Um imperador mongol, no século XIII, sonha um palácio e o edifica conforme a visão; no século XVIII, um poeta inglês que não podia saber que esta construção se originou de um sonho, sonha um poema sobre o palácio. Confrontadas com essa simetria, que trabalha com almas de homens e abarca continentes, parecem-me significar nada ou muito para as levitações, as ressurreições e o aparecimento dos livros religiosos.
Que explicação preferimos? Aqueles que de antemão rechaçam o sobrenatural (eu trato sempre de pertencer a esse grupo) julgarão que a história dos dois sonhos é uma coincidência, um desenho traçado pelo acaso, como as formas de leões e de cavalos que as vezes configuram as nuvens. Outros arguirão que o poeta soube de algum modo que o imperador havia sonhado o palácio e disse ter sonhado o poema para criar uma esplêndida ficção que em si aplacasse ou justificasse o truncado e o rapsódico dos versos*. Esta conjectura é verossímil, porém nos obriga a postular, arbitrariamente, um texto não identificado por sinólogos no qual Coleridge tivesse podido ler, antes de 1816, o sonho de Kubla**. Mais encantadoras são as hipóteses que transcendem o racional. Por exemplo, é válido supor que a alma do imperador, uma vez destruído o palácio, penetrou na alma de Coleridge para que este o reconstruísse em palavras, mais duradouras que os mármores e metais.
O primeiro sonho acrescentou um palácio à realidade; o segundo que teve lugar cinco séculos depois, acrescentou um poema (ou um princípio de poema) sugerido pelo palácio. A semelhança dos sonhos deixa entrever um plano, e o período enorme revela um executor sobre-humano. Indagar o propósito desse imortal ou desse longevo seria, talvez, mais atrevido do que inútil, porém é lícito supor que isso não foi alcançado. Em 1691, o Pe. Gerbillon, da Companhia de Jesus, comprovou que do palácio de Kubla Khan somente restavam ruínas; do poema, consta-nos que somente se resgataram uns cinquenta versos. Tais fatos permitem conjeturar que a série de sonhos e de trabalhos não chegou ao seu fim. Ao primeiro sonhador lhe foi mostrada de noite a visão do palácio, e ele o construiu; ao segundo, que desconhecia o sonho do anterior, o poema sobre o palácio. Se o esquema não falhar, alguém, em uma noite das que nos separam os séculos, sonhará o mesmo sonho e não suspeitará que outros já o sonharam, e dará a ele a forma de um mármore ou de uma música.
Talvez a série de sonhos não tenha fim; talvez a chave esteja no último deles.
Já escrito o texto anterior, entrevejo, ou creio entrever, uma outra explicação. Talvez um arquétipo ainda não revelado aos homens, um objeto eterno (para usar a terminologia de Whitehead) esteja ingressando paulatinamente no mundo; sua primeira manifestação foi o palácio; a segunda, o poema. Quem os tivesse comparado teria visto que eram essencialmente iguais.
Jorge Luis Borges, "Livro de Sonhos"
* Em princípios do século XIX ou em fins do XVIII, Kubla Khan, no julgamento dos leitores de gosto clássico, era muito menos apreciado do que hoje em dia. Em 1884, Traill, que foi o primeiro biógrafo de Coleridge, escreveu: “O extravagante poema onírico Kubla Khan é pouco mais do que uma curiosidade psicológica”.
** Veja-se John I.ivingstone Lowes: The road to Xanandu, 1927, páginas 358, 585
“Descobri, com não pequena surpresa e mortificação — conta Coleridge — que embora retivesse de um modo vago a forma geral da visão, tudo o mais, salvo umas oito ou dez linhas soltas, havia desaparecido assim como as imagens na superfície de um rio no qual se joga uma pedra, porém — ai de mim! — sem a sua ulterior restauração”. Swinburne sentiu que o que fora resgatado representava o mais alto exemplo da música do inglês e que o homem capaz de analisá-lo poderia (a metáfora é de John Keats) destecer um arco-íris. As traduções ou resumos de poemas cuja virtude fundamental é a música, são vãs e podem ser prejudiciais; que nos baste reter, por agora, que a Coleridge foi dada em um sonho uma página de indiscutível esplendor.
Ouviu uma música; viu erguer-se o palácio e ouviu as palavras do poema.
O caso, ainda que extraordinário, não é o único. No estudo psicológico The World of Dreams, Havelock Ellis equiparou-o com o do violinista e compositor Giuseppe Tartini, que sonhou que o Diabo (seu escravo) executava no violino uma sonata prodigiosa; o sonhador, ao despertar, deduziu de sua lembrança imperfeita o Trillo dei Diavolo.
Outro exemplo clássico de cerebração inconsciente é o de Robert Louis Stevenson, a quem um sonho (segundo ele mesmo conta em Chapter on Dreams) lhe deu o argumento de Olalla e outro, em 1884, o de Dr. Jekill and Mr. Hyde. Tartini quis imitar na vigília a música de um sonho; Stevenson recebeu do sonho argumentos, quer dizer, formas gerais; mais afim à inspiração verbal de Coleridge é a que Beda o Venerável atribui a Caedmon (Historia ecclessiastica gentis Anglocum, IV, 24).
À primeira vista o sonho de Coleridge corre o risco de parecer menos assombroso que o de seu precursor. Kubla Khan é uma composição admirável e as nove linhas do hino sonhado por Coleridge quase não apresentam outra virtude além de sua origem onírica, porém, Coleridge já era um poeta e a Caedmon foi revelada uma vocação. Não obstante, há um fato anterior que magnifica até os limites do insondável a maravilha do sonho em que se engendrou Kubla Khan. Se este fato é verdadeiro, a história do sonho de Coleridge é anterior em muitos séculos a Coleridge e ainda não chegou ao seu fim.
O poeta sonhou em 1797 (outros acham que foi em 1798) e publicou o seu relato do sonho em 1806, a maneira de glosa ou justificativa do poema inconcluso. Vinte anos depois apareceu em Paris, fragmentariamente, a primeira versão ocidental de uma destas histórias universais em que a literatura persa é tão rica, o Compêndio de histórias de Rashid ed-Din, que data do século XIV. Em uma página se lê: “A leste de Shang-tu, Kubla Khan erigiu um palácio, segundo um plano que havia visto em um sonho e que guardava na memória”. Quem escreveu isto foi o vizir de Gashan Mahmud, que descendia de Kubla.
Um imperador mongol, no século XIII, sonha um palácio e o edifica conforme a visão; no século XVIII, um poeta inglês que não podia saber que esta construção se originou de um sonho, sonha um poema sobre o palácio. Confrontadas com essa simetria, que trabalha com almas de homens e abarca continentes, parecem-me significar nada ou muito para as levitações, as ressurreições e o aparecimento dos livros religiosos.
Que explicação preferimos? Aqueles que de antemão rechaçam o sobrenatural (eu trato sempre de pertencer a esse grupo) julgarão que a história dos dois sonhos é uma coincidência, um desenho traçado pelo acaso, como as formas de leões e de cavalos que as vezes configuram as nuvens. Outros arguirão que o poeta soube de algum modo que o imperador havia sonhado o palácio e disse ter sonhado o poema para criar uma esplêndida ficção que em si aplacasse ou justificasse o truncado e o rapsódico dos versos*. Esta conjectura é verossímil, porém nos obriga a postular, arbitrariamente, um texto não identificado por sinólogos no qual Coleridge tivesse podido ler, antes de 1816, o sonho de Kubla**. Mais encantadoras são as hipóteses que transcendem o racional. Por exemplo, é válido supor que a alma do imperador, uma vez destruído o palácio, penetrou na alma de Coleridge para que este o reconstruísse em palavras, mais duradouras que os mármores e metais.
O primeiro sonho acrescentou um palácio à realidade; o segundo que teve lugar cinco séculos depois, acrescentou um poema (ou um princípio de poema) sugerido pelo palácio. A semelhança dos sonhos deixa entrever um plano, e o período enorme revela um executor sobre-humano. Indagar o propósito desse imortal ou desse longevo seria, talvez, mais atrevido do que inútil, porém é lícito supor que isso não foi alcançado. Em 1691, o Pe. Gerbillon, da Companhia de Jesus, comprovou que do palácio de Kubla Khan somente restavam ruínas; do poema, consta-nos que somente se resgataram uns cinquenta versos. Tais fatos permitem conjeturar que a série de sonhos e de trabalhos não chegou ao seu fim. Ao primeiro sonhador lhe foi mostrada de noite a visão do palácio, e ele o construiu; ao segundo, que desconhecia o sonho do anterior, o poema sobre o palácio. Se o esquema não falhar, alguém, em uma noite das que nos separam os séculos, sonhará o mesmo sonho e não suspeitará que outros já o sonharam, e dará a ele a forma de um mármore ou de uma música.
Talvez a série de sonhos não tenha fim; talvez a chave esteja no último deles.
Já escrito o texto anterior, entrevejo, ou creio entrever, uma outra explicação. Talvez um arquétipo ainda não revelado aos homens, um objeto eterno (para usar a terminologia de Whitehead) esteja ingressando paulatinamente no mundo; sua primeira manifestação foi o palácio; a segunda, o poema. Quem os tivesse comparado teria visto que eram essencialmente iguais.
Jorge Luis Borges, "Livro de Sonhos"
* Em princípios do século XIX ou em fins do XVIII, Kubla Khan, no julgamento dos leitores de gosto clássico, era muito menos apreciado do que hoje em dia. Em 1884, Traill, que foi o primeiro biógrafo de Coleridge, escreveu: “O extravagante poema onírico Kubla Khan é pouco mais do que uma curiosidade psicológica”.
** Veja-se John I.ivingstone Lowes: The road to Xanandu, 1927, páginas 358, 585
Só os absurdos enriquecem a poesia
Eu queria usar palavras de ave para escrever.
Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem
nomeação.
Ali a gente brincava de brincar com palavras
tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra!
A Mãe que ouvira a brincadeira falou:
Já vem você com suas visões!
Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis
e nem há pedras de sacristias por aqui.
Isso é traquinagem da sua imaginação.
O menino tinha no olhar um silêncio de chão
e na sua voz uma candura de Fontes.
O Pai achava que a gente queria desver o mundo
para encontrar nas palavras novas coisas de ver
assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do
rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão
de uma pedra.
Eram novidades que os meninos criavam com as suas
palavras.
Assim Bernardo emendou nova criação: Eu hoje vi um
sapo com olhar de árvore.
Então era preciso desver o mundo para sair daquele
lugar imensamente e sem lado.
A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas
pela inocência.
O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias
para a gente bem entender a voz das águas e
dos caracóis.
A gente gostava das palavras quando elas perturbavam
o sentido normal das ideias.
Porque a gente também sabia que só os absurdos
enriquecem a poesia.
Manoel de Barros, "Menino do mato"
Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem
nomeação.
Ali a gente brincava de brincar com palavras
tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra!
A Mãe que ouvira a brincadeira falou:
Já vem você com suas visões!
Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis
e nem há pedras de sacristias por aqui.
Isso é traquinagem da sua imaginação.
O menino tinha no olhar um silêncio de chão
e na sua voz uma candura de Fontes.
O Pai achava que a gente queria desver o mundo
para encontrar nas palavras novas coisas de ver
assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do
rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão
de uma pedra.
Eram novidades que os meninos criavam com as suas
palavras.
Assim Bernardo emendou nova criação: Eu hoje vi um
sapo com olhar de árvore.
Então era preciso desver o mundo para sair daquele
lugar imensamente e sem lado.
A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas
pela inocência.
O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias
para a gente bem entender a voz das águas e
dos caracóis.
A gente gostava das palavras quando elas perturbavam
o sentido normal das ideias.
Porque a gente também sabia que só os absurdos
enriquecem a poesia.
Manoel de Barros, "Menino do mato"
quarta-feira, abril 24
Eu estava ali deitado
Eu estava ali deitado olhando através da vidraça as roseiras no jardim fustigadas pelo vento que zunia lá fora e nas venezianas do meu quarto e de repente cessava e tudo ficava tão quieto tão triste e de repente recomeçava e as roseiras frágeis e assustadas irrompiam na vidraça e eu estava ali o tempo todo olhando estava em minha cama com a minha blusa de lã as mãos enfiadas nos bolsos os braços colados ao corpo as pernas juntas estava de sapatos Mamãe não gostava que eu deitasse de sapatos deixe de preguiça menino! mas dessa vez eu estava deitado de sapatos e ela viu e não falou nada ela sentou-se na beirada da cama e pousou a mão em meu joelho e falou você não quer mesmo almoçar?
Eu falei que não quer comer nada? eu falei que não nem uma carninha assada daquelas que você gosta? com uma cebolinha de folha lá da horta um limãozinho uma pimentinha? ela sorriu e deu uma palmadinha no meu joelho e eu também sorri mas falei que não estava com a menor fome nem uma coisinha meu filho? uma coisinha só? eu falei que não e então ela ficou me olhando e então ela saiu do quarto eu estava de sapatos e ela não falou nada ela não falaria nada meus sapatos engraxados bonitos brilhantes.
Ele não quer comer nada? escutei papai perguntando e mamãe decerto só balançou a cabeça porque não escutei ela responder e agora eles estavam comendo em silêncio os dois sozinhos lá na mesa em silêncio o barulho dos garfos a casa quieta e fria e triste o vento zunindo lá fora e nas venezianas de meu quarto.
— Você precisa compreender isso, Carlos
— Não posso, Miriam
— Não daria certo
— Não daria certo?
— Nossos temperamentos não combinam
— Não é verdade
— Assim será melhor para nós dois
Não Miriam não é verdade Miriam não é certo Miriam não pode Miriam não pode não pode! ó meu Deus não pode.
Papai estava parado à porta pensei que você estava dormindo ele falou eu sorri que vento hem! ele falou e eu olhei para a vidraça e lá estavam as roseiras frágeis e assustadas, fustigadas pelo vento esse mês de junho é terrível ele falou ele estava parado no meio do quarto estava de paletó e gravata de pulôver esfregava as mãos eu vou lá no Jorge você não quer ir também? ele ficou olhando pra mim esperando não papai dar uma volta? não obrigado você vai virar sorvete aí dentro ele brincou e eu ri e ele riu e então ficou sério de novo esfregava as mãos fiquei com pena dele eu sabia que ele queria me dizer alguma coisa sabia quase o que ele queria me dizer mamãe devia ter dito a ele Artur chama o Carlos para dar uma volta e ele dissera isso mas agora era diferente era ele mesmo que queria me dizer alguma coisa e estava atrapalhado ficava atrapalhado quando queria conversar essas coisas com um filho e então esfregava as mãos não era por causa do frio Carlos eu sei o que você está sentindo ele falou Eu sei como é muito aborrecido mesmo mas há coisas piores sabe? eu olhei para ele e então ele abaixou a cabeça e de novo estava atrapalhado e de novo eu fiquei com pena dele eu sei que você gosta muito dela eu sei eu sei que isso é muito aborrecido mas ele olhou pra mim não se preocupe papai eu falei não precisa se preocupar não é nada eu sei mas você não almoçou eu estava sem fome pois é e então nós dois ficamos calados ele tirou o relógio do bolso e olhou as horas você não quer ir mesmo no Jorge? ele perguntou e eu falei que não então ele saiu do quarto escutei ele abrindo o portão e depois os passos dele na calçada o vento zunia lá fora eu estava olhando para os meus sapatos ela gostava deles assim engraxados bonitos brilhantes você é tão cuidadoso Carlos como gosto de você não pode calcular o tanto que eu gosto de você se te acontecesse alguma coisa se te acontecesse alguma coisa eu não sei o que eu faria mas não vai acontecer nada bem vai? Não vai não pode se te acontecesse alguma coisa acho que eu morreria eu gosto demais de você demais, demais.
Fechei os olhos e contei até quinhentos e recordei os nomes de todas as capitais do Brasil e da Europa e recordei os nomes das dezenas de rios e dezenas de montanhas e deitei de bruços e deitei do lado direito deitei do lado esquerdo e deitei de bruços outra vez e pus o travesseiro em cima da cabeça e pus o travesseiro de baixo da cabeça e apertei a cabeça contra a parede e apertei mais ainda a cabeça contra a parede que ela doeu e então virei de costas outra vez e enfiei as mãos nos bolsos colei os braços ao corpo juntei as pernas abri os olhos e estava de novo olhando através da vidraça as roseiras frágeis e assustadas fustigadas pelo vento que zunia lá fora e nas venezianas de meu quarto.
Eu falei que não quer comer nada? eu falei que não nem uma carninha assada daquelas que você gosta? com uma cebolinha de folha lá da horta um limãozinho uma pimentinha? ela sorriu e deu uma palmadinha no meu joelho e eu também sorri mas falei que não estava com a menor fome nem uma coisinha meu filho? uma coisinha só? eu falei que não e então ela ficou me olhando e então ela saiu do quarto eu estava de sapatos e ela não falou nada ela não falaria nada meus sapatos engraxados bonitos brilhantes.
Ele não quer comer nada? escutei papai perguntando e mamãe decerto só balançou a cabeça porque não escutei ela responder e agora eles estavam comendo em silêncio os dois sozinhos lá na mesa em silêncio o barulho dos garfos a casa quieta e fria e triste o vento zunindo lá fora e nas venezianas de meu quarto.
— Você precisa compreender isso, Carlos
— Não posso, Miriam
— Não daria certo
— Não daria certo?
— Nossos temperamentos não combinam
— Não é verdade
— Assim será melhor para nós dois
Não Miriam não é verdade Miriam não é certo Miriam não pode Miriam não pode não pode! ó meu Deus não pode.
Papai estava parado à porta pensei que você estava dormindo ele falou eu sorri que vento hem! ele falou e eu olhei para a vidraça e lá estavam as roseiras frágeis e assustadas, fustigadas pelo vento esse mês de junho é terrível ele falou ele estava parado no meio do quarto estava de paletó e gravata de pulôver esfregava as mãos eu vou lá no Jorge você não quer ir também? ele ficou olhando pra mim esperando não papai dar uma volta? não obrigado você vai virar sorvete aí dentro ele brincou e eu ri e ele riu e então ficou sério de novo esfregava as mãos fiquei com pena dele eu sabia que ele queria me dizer alguma coisa sabia quase o que ele queria me dizer mamãe devia ter dito a ele Artur chama o Carlos para dar uma volta e ele dissera isso mas agora era diferente era ele mesmo que queria me dizer alguma coisa e estava atrapalhado ficava atrapalhado quando queria conversar essas coisas com um filho e então esfregava as mãos não era por causa do frio Carlos eu sei o que você está sentindo ele falou Eu sei como é muito aborrecido mesmo mas há coisas piores sabe? eu olhei para ele e então ele abaixou a cabeça e de novo estava atrapalhado e de novo eu fiquei com pena dele eu sei que você gosta muito dela eu sei eu sei que isso é muito aborrecido mas ele olhou pra mim não se preocupe papai eu falei não precisa se preocupar não é nada eu sei mas você não almoçou eu estava sem fome pois é e então nós dois ficamos calados ele tirou o relógio do bolso e olhou as horas você não quer ir mesmo no Jorge? ele perguntou e eu falei que não então ele saiu do quarto escutei ele abrindo o portão e depois os passos dele na calçada o vento zunia lá fora eu estava olhando para os meus sapatos ela gostava deles assim engraxados bonitos brilhantes você é tão cuidadoso Carlos como gosto de você não pode calcular o tanto que eu gosto de você se te acontecesse alguma coisa se te acontecesse alguma coisa eu não sei o que eu faria mas não vai acontecer nada bem vai? Não vai não pode se te acontecesse alguma coisa acho que eu morreria eu gosto demais de você demais, demais.
Fechei os olhos e contei até quinhentos e recordei os nomes de todas as capitais do Brasil e da Europa e recordei os nomes das dezenas de rios e dezenas de montanhas e deitei de bruços e deitei do lado direito deitei do lado esquerdo e deitei de bruços outra vez e pus o travesseiro em cima da cabeça e pus o travesseiro de baixo da cabeça e apertei a cabeça contra a parede e apertei mais ainda a cabeça contra a parede que ela doeu e então virei de costas outra vez e enfiei as mãos nos bolsos colei os braços ao corpo juntei as pernas abri os olhos e estava de novo olhando através da vidraça as roseiras frágeis e assustadas fustigadas pelo vento que zunia lá fora e nas venezianas de meu quarto.
Luiz Vilela
Saúde do cérebro: de jornais a livros
Assim como a atividade física regular é essencial para o corpo, o cérebro também precisa de um bom treino para se manter saudável. E a leitura de jornais, livros e revistas é um dos melhores exercícios para ele.
Diversos estudos científicos analisam os impactos de se manter o hábito da leitura. Trabalhos publicados nas últimas décadas mostram que ele não apenas é uma fonte de prazer, como previne o declínio cognitivo, doença de Alzheimer e outras formas de demência, reduz o estresse, gera mais empatia e impacta até mesmo na mortalidade de modo geral.
— A leitura demanda muita atenção, memória e raciocínio. E trabalha a parte de linguagem, de compreensão, vocabulário, o que também é muito positivo. Como consequência, é um estímulo robusto para criar uma reserva cognitiva, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a lesões. Quem lê muito ao longo da vida cria mais circuitos neuronais, então tem vias alternativas para realizar uma determinada atividade quando há uma lesão, um desgaste, em alguma delas. Isso é muito estudado hoje — explica Raphael Spera, do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).
Por isso, numa era em que a maioria dos textos lidos fazem parte de postagens curtas e superficiais em redes sociais e aplicativos de mensagens, Elisa Resende, vice-coordenadora do departamento científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), destaca que se aprofundar em conteúdos mais longos, e com maior grau de complexidade, pode ser uma boa estratégia para trabalhar o cérebro.
— Ler jornais, por exemplo, pode ser muito importante, tanto para combater fake news como para a manutenção da saúde cerebral. Porque além de serem conteúdos que passaram por um crivo, são textos geralmente mais longos, que vão estimular mais o cérebro do que pequenos textinhos no WhastApp. Além de ser um estímulo por manter a pessoa atualizada. Então nós recomendamos muito para os pacientes — afirma a professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
— Quanto mais diversa for a leitura, melhor para o desenvolvimento cultural da pessoa. A leitura não deve ser apenas para entreter, mas sim para se desenvolver, temas diferentes ampliam o olhar e promovem conexão entre assuntos, aumentando os aprendizados. A leitura qualitativa auxilia na construção do pensamento crítico, criativo. É um exercício saudável para o cérebro e para a socialização — garante.
O melhor efeito para a saúde, pontuam os especialistas, é na redução do risco de doenças neurodegenerativas a longo prazo. Um trabalho publicado na revista científica Neurology, em 2022, analisou 38 estudos sobre o tema e identificou que atividades intelectuais, como ler por prazer, estão associadas a um risco 23% menor de demência. Por outro lado, um trabalho da Universidade de Columbia, nos EUA, descobriu que a perda cognitiva é quase três vezes mais comum entre adultos analfabetos.
Mas mesmo quem já está em fases mais avançadas da vida pode se beneficiar de começar um hábito de leitura. Outro estudo, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, identificou que idosos que relataram ler frequentemente tiveram um declínio cognitivo mais lento do que aqueles que não liam.
— Eu sempre recomendo aos meus pacientes. Mesmo aqueles que têm quadros de demência, prejuízo cognitivo. Especialmente nas fases iniciais dessas doenças, nós vemos benefícios tanto nos aspectos cognitivos, como no psicológicos — diz Spera.
Ler também proporciona uma melhor saúde mental. Ainda em 2009, um estudo da Universidade de Sussex, no Reino Unido, já havia mostrado que o hábito reduz o estresse em 68%, mais do que o observado ao ouvir música ou fazer uma caminhada, por exemplo.
— A leitura permite que fujamos de picos de dopamina, o prazer imediato que já nos vem pronto com as redes sociais. Esse excesso de estímulos nos deixa mais impulsivos, nervosos. Já a leitura, gera o contrário, ela estimula o foco, a imaginação, o aprendizado, a resiliência, porque não vem pronta, é preciso empenho para traduzir as palavras em conceitos coerentes, que façam sentido. Com isso, diminui o estresse, diminuindo a frequência cardíaca e aliviando a tensão dos músculos durante o processo — detalha Crunfli.
Um dos impactos mais marcantes dessas repercussões fisiológicas é na mortalidade. Uma pesquisa da Universidade de Yale, nos EUA, acompanhou um grupo por 12 anos e descobriu que aqueles que passaram até 3,5 horas por semana lendo tiveram um risco 17% menor de morrer. Os que liam mais do que isso tinham 23% menos chances de morrer em comparação com os que não liam.
Outro efeito positivo observado nos estudos é o aumento da empatia. Ainda em 2013, pesquisadores da New School for Social Research, nos EUA, publicaram na prestigiosa Science experimentos que revelaram que “a leitura de ficção literária aprimora um conjunto de habilidades e processos de pensamento fundamentais para relacionamentos sociais complexos — e sociedades funcionais”.
— Os estudos mostram essa capacidade de ter mais empatia, de se colocar no lugar do outro, de se sensibilizar mais. Quando você lê, você tem diversos personagens, histórias diferentes, e você se coloca no lugar desses pontos de vista — avalia Spera.
Em relação ao quanto é necessário para atingir os benefícios, Resende lembra que “qualquer leitura já é considerada positiva. Assim como acontece com o exercício físico, alguma coisa já é melhor do que nada”.
Para quem nunca teve o hábito, ou está numa famosa “ressaca literária” – quando é difícil iniciar um novo livro após terminar uma história arrebatadora –, Crunfli sugere ir aos poucos:
— Tente um número pequeno de páginas e vá aumentando sucessivamente. Caso contrário, torna-se insustentável. O foco é construir o hábito da leitura, e para isso é necessário que seja feito aos poucos e de maneira contínua.
De acordo com os especialistas, o mesmo vale para o jornal: comece pela sua editoria preferida e vá abrindo o leque e explorando novos assuntos.
Diversos estudos científicos analisam os impactos de se manter o hábito da leitura. Trabalhos publicados nas últimas décadas mostram que ele não apenas é uma fonte de prazer, como previne o declínio cognitivo, doença de Alzheimer e outras formas de demência, reduz o estresse, gera mais empatia e impacta até mesmo na mortalidade de modo geral.
— A leitura demanda muita atenção, memória e raciocínio. E trabalha a parte de linguagem, de compreensão, vocabulário, o que também é muito positivo. Como consequência, é um estímulo robusto para criar uma reserva cognitiva, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a lesões. Quem lê muito ao longo da vida cria mais circuitos neuronais, então tem vias alternativas para realizar uma determinada atividade quando há uma lesão, um desgaste, em alguma delas. Isso é muito estudado hoje — explica Raphael Spera, do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).
Por isso, numa era em que a maioria dos textos lidos fazem parte de postagens curtas e superficiais em redes sociais e aplicativos de mensagens, Elisa Resende, vice-coordenadora do departamento científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), destaca que se aprofundar em conteúdos mais longos, e com maior grau de complexidade, pode ser uma boa estratégia para trabalhar o cérebro.
— Ler jornais, por exemplo, pode ser muito importante, tanto para combater fake news como para a manutenção da saúde cerebral. Porque além de serem conteúdos que passaram por um crivo, são textos geralmente mais longos, que vão estimular mais o cérebro do que pequenos textinhos no WhastApp. Além de ser um estímulo por manter a pessoa atualizada. Então nós recomendamos muito para os pacientes — afirma a professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Para os especialistas, quanto mais complexa a leitura for, maior será o benefício. Anne Crunfli, psicóloga especializada em transtornos de ansiedade pela Escola de Medicina da USP, defende que o ideal é diversificar, passear por diferentes estilos de textos que abordem temas variados.
— Quanto mais diversa for a leitura, melhor para o desenvolvimento cultural da pessoa. A leitura não deve ser apenas para entreter, mas sim para se desenvolver, temas diferentes ampliam o olhar e promovem conexão entre assuntos, aumentando os aprendizados. A leitura qualitativa auxilia na construção do pensamento crítico, criativo. É um exercício saudável para o cérebro e para a socialização — garante.
O melhor efeito para a saúde, pontuam os especialistas, é na redução do risco de doenças neurodegenerativas a longo prazo. Um trabalho publicado na revista científica Neurology, em 2022, analisou 38 estudos sobre o tema e identificou que atividades intelectuais, como ler por prazer, estão associadas a um risco 23% menor de demência. Por outro lado, um trabalho da Universidade de Columbia, nos EUA, descobriu que a perda cognitiva é quase três vezes mais comum entre adultos analfabetos.
Mas mesmo quem já está em fases mais avançadas da vida pode se beneficiar de começar um hábito de leitura. Outro estudo, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, identificou que idosos que relataram ler frequentemente tiveram um declínio cognitivo mais lento do que aqueles que não liam.
— Eu sempre recomendo aos meus pacientes. Mesmo aqueles que têm quadros de demência, prejuízo cognitivo. Especialmente nas fases iniciais dessas doenças, nós vemos benefícios tanto nos aspectos cognitivos, como no psicológicos — diz Spera.
Ler também proporciona uma melhor saúde mental. Ainda em 2009, um estudo da Universidade de Sussex, no Reino Unido, já havia mostrado que o hábito reduz o estresse em 68%, mais do que o observado ao ouvir música ou fazer uma caminhada, por exemplo.
— A leitura permite que fujamos de picos de dopamina, o prazer imediato que já nos vem pronto com as redes sociais. Esse excesso de estímulos nos deixa mais impulsivos, nervosos. Já a leitura, gera o contrário, ela estimula o foco, a imaginação, o aprendizado, a resiliência, porque não vem pronta, é preciso empenho para traduzir as palavras em conceitos coerentes, que façam sentido. Com isso, diminui o estresse, diminuindo a frequência cardíaca e aliviando a tensão dos músculos durante o processo — detalha Crunfli.
Um dos impactos mais marcantes dessas repercussões fisiológicas é na mortalidade. Uma pesquisa da Universidade de Yale, nos EUA, acompanhou um grupo por 12 anos e descobriu que aqueles que passaram até 3,5 horas por semana lendo tiveram um risco 17% menor de morrer. Os que liam mais do que isso tinham 23% menos chances de morrer em comparação com os que não liam.
Outro efeito positivo observado nos estudos é o aumento da empatia. Ainda em 2013, pesquisadores da New School for Social Research, nos EUA, publicaram na prestigiosa Science experimentos que revelaram que “a leitura de ficção literária aprimora um conjunto de habilidades e processos de pensamento fundamentais para relacionamentos sociais complexos — e sociedades funcionais”.
— Os estudos mostram essa capacidade de ter mais empatia, de se colocar no lugar do outro, de se sensibilizar mais. Quando você lê, você tem diversos personagens, histórias diferentes, e você se coloca no lugar desses pontos de vista — avalia Spera.
Em relação ao quanto é necessário para atingir os benefícios, Resende lembra que “qualquer leitura já é considerada positiva. Assim como acontece com o exercício físico, alguma coisa já é melhor do que nada”.
Para quem nunca teve o hábito, ou está numa famosa “ressaca literária” – quando é difícil iniciar um novo livro após terminar uma história arrebatadora –, Crunfli sugere ir aos poucos:
— Tente um número pequeno de páginas e vá aumentando sucessivamente. Caso contrário, torna-se insustentável. O foco é construir o hábito da leitura, e para isso é necessário que seja feito aos poucos e de maneira contínua.
De acordo com os especialistas, o mesmo vale para o jornal: comece pela sua editoria preferida e vá abrindo o leque e explorando novos assuntos.
Há dias
Há dias em que julgamos
que todo o lixo do mundo
nos cai em cima
depois ao chegarmos à varanda avistamos
as crianças correndo no molhe
enquanto cantam
não lhes sei o nome
uma ou outra parece-se comigo
quero eu dizer:
com o que fui
quando cheguei a ser luminosa
presença da graça
ou da alegria
um sorriso abre-se então
num verão antigo
e dura
dura ainda.
Eugénio de Andrade, " Os Lugares do Lume"
que todo o lixo do mundo
nos cai em cima
depois ao chegarmos à varanda avistamos
as crianças correndo no molhe
enquanto cantam
não lhes sei o nome
uma ou outra parece-se comigo
quero eu dizer:
com o que fui
quando cheguei a ser luminosa
presença da graça
ou da alegria
um sorriso abre-se então
num verão antigo
e dura
dura ainda.
Eugénio de Andrade, " Os Lugares do Lume"
Canção de homens e mulheres lamentáveis
Esta noite... esta chuva... estas reticências. Sei lá.
Quem seria capaz de contar a história? De chamar o maior amigo, ou melhor, o inimigo, e dizer:
— Estou me sentindo assim, assim, assim...
A humanidade está necessitando, urgentemente, de afeto e milagre. Mas não sabe onde estão as mãos, nem os deuses. E, quando souber, vai achar que as mãos e os deuses são de mentira. Os olhos de todos estarão cheios de medo, os olhos das jovens raparigas, os olhos, os braços, o ventre e as pernas das jovens raparigas, receosos de pagar com os quefazeres do sexo.
E por que você não se transforma no homem banal, que se encharca de álcool, para apregoar a desdita? Seria mais fácil. Talvez alguém lhe chamasse de porco e você revidasse com um soco no rosto, um só rosto, de todo o Gênero Humano. Viria a polícia, que simplifica tudo, generalizando. E tudo se transformaria em notícia: "Preso o alcoólatra, quando injuriava e agredia a Família Brasileira, na pessoa de um sócio do Country".
Há poucos minutos, em meu quarto, na mais completa escuridão, a carência era tanta que tive de escolher entre morrer e escrever estas coisas. Qualquer das escolhas seria desprezível. Preferi esta (escrever), uma opção igualmente piegas, igualmente pífia e sentimental, menos espalhafatosa, porém. A morte, mesmo em combate, é burlesca.
Uma pergunta, que não tem nada a ver com o corpo desta canção. Quem saberia discriminar o ódio do amor? Ninguém. Os psicologistas e analistas têm perdido um tempo enorme.
Ontem à noite, voltando para casa, senti-me espectador de mim mesmo. E confesso que, pela primeira vez, não achei a menor graça. Saíra, pela primeira vez, de óculos e o porteiro do edifício me recebeu com esta agradável pergunta:
— Que é que houve? O senhor está mais velho?
Tirei os óculos e, fitando-o, esperei as desculpas. Mas o homem continuou:
— O que é que houve? De ontem para cá, o senhor envelheceu.
Tinha pensado que, sem os óculos...
Não estou escrevendo para ninguém gostar ou, ao menos, entender. Estou escrevendo, simplesmente, e isto me supre: contrabalança, quando nada. Esta noite, esta chuva — e poderia escrever as coisas mais alegres, esta noite. Neruda, coitado, as mais tristes.
Só há uma vantagem na solidão: poder ir ao banheiro com a porta aberta. Mas isto é muito pouco, para quem não tem sequer a coragem de abrir a camisa e mostrar a ferida.
Quem seria capaz de abrir o peito e mostrar a ferida? De dizer o nome? De lembrar, sequer lembrar, o rosto?
Quem seria capaz de contar a história? De chamar o maior amigo, ou melhor, o inimigo, e dizer:
— Estou me sentindo assim, assim, assim...
A humanidade está necessitando, urgentemente, de afeto e milagre. Mas não sabe onde estão as mãos, nem os deuses. E, quando souber, vai achar que as mãos e os deuses são de mentira. Os olhos de todos estarão cheios de medo, os olhos das jovens raparigas, os olhos, os braços, o ventre e as pernas das jovens raparigas, receosos de pagar com os quefazeres do sexo.
Nesta noite, com esta chuva, as jovens raparigas não são importantes. Apenas uma tem importância. Mas quem seria de todo livre e descuidado, a ponto de dizer o seu nome? De pensar o seu nome? Você diria em público o nome da Amada? E suportaria ouvi-lo? Não, não; o nome dela, em sua boca ou na dos outros, é tão proibido como sua nudez (dela). Não há diferença.
E por que você não se transforma no homem banal, que se encharca de álcool, para apregoar a desdita? Seria mais fácil. Talvez alguém lhe chamasse de porco e você revidasse com um soco no rosto, um só rosto, de todo o Gênero Humano. Viria a polícia, que simplifica tudo, generalizando. E tudo se transformaria em notícia: "Preso o alcoólatra, quando injuriava e agredia a Família Brasileira, na pessoa de um sócio do Country".
Há poucos minutos, em meu quarto, na mais completa escuridão, a carência era tanta que tive de escolher entre morrer e escrever estas coisas. Qualquer das escolhas seria desprezível. Preferi esta (escrever), uma opção igualmente piegas, igualmente pífia e sentimental, menos espalhafatosa, porém. A morte, mesmo em combate, é burlesca.
Uma pergunta, que não tem nada a ver com o corpo desta canção. Quem saberia discriminar o ódio do amor? Ninguém. Os psicologistas e analistas têm perdido um tempo enorme.
Ontem à noite, voltando para casa, senti-me espectador de mim mesmo. E confesso que, pela primeira vez, não achei a menor graça. Saíra, pela primeira vez, de óculos e o porteiro do edifício me recebeu com esta agradável pergunta:
— Que é que houve? O senhor está mais velho?
Tirei os óculos e, fitando-o, esperei as desculpas. Mas o homem continuou:
— O que é que houve? De ontem para cá, o senhor envelheceu.
Tinha pensado que, sem os óculos...
Não estou escrevendo para ninguém gostar ou, ao menos, entender. Estou escrevendo, simplesmente, e isto me supre: contrabalança, quando nada. Esta noite, esta chuva — e poderia escrever as coisas mais alegres, esta noite. Neruda, coitado, as mais tristes.
Só há uma vantagem na solidão: poder ir ao banheiro com a porta aberta. Mas isto é muito pouco, para quem não tem sequer a coragem de abrir a camisa e mostrar a ferida.
Antônio Maria, "Com vocês, Antônio Maria"
Assinar:
Postagens (Atom)